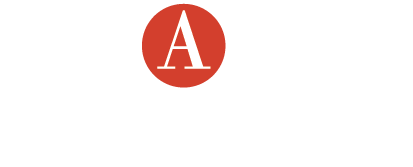Canclini na Cátedra
Entrevista com Ana Paula do Val, realizada por Sharine Melo, pela ferramenta Zoom, em 16 de fevereiro de 2021.
[Sharine] Você já conhece um pouco do nosso trabalho, não é? Minha pesquisa é sobre a Lei Aldir Blanc. Não somente sobre aspectos mais burocráticos ou sobre aspectos técnicos da lei, mas principalmente sobre a articulação em rede dos artistas para sua criação e implementação. Você participou de todo o processo em São Paulo. Mas acho que, antes de entrarmos no tema, podemos falar um pouco sobre sua trajetória como militante cultural, como gestora. Eu não sei se você trabalha também como artista ou não…
[Ana Paula] É sempre difícil falar de mim porque é uma identidade meio híbrida. No final das contas, escolho as coisas que tenham mais a ver com a temática. Sou muito transdisciplinar. Gosto disso. Minha formação acadêmica também é super eclética. Comecei minha vida acadêmica na graduação em artes plásticas, na Universidade de Belas Artes de Frankfurt (Alemanha). Quando voltei, como já tinha essa bolsa, já tinha a relação de cooperação internacional acadêmica, recebi um convite do coordenador do curso, no Brasil. Inicialmente, o curso era híbrido e envolvia artes plásticas, arquitetura, desenho industrial, design gráfico… Era uma área bem ampla. Para compartilhar o conhecimento e, também, para ganhar grana, os caras transformaram tudo em cursos… Havia um diálogo forte. Então, eles me convidaram para fazer a graduação. Eu poderia escolher a área. Fui fazer arquitetura porque estudei artes plásticas na Alemanha e voltei com todas as questões sobre as cidades. Em primeiro lugar, pelo impacto de ver o regime ao qual a Alemanha foi submetida, o fato de haver dois regimes políticos. O espaço acaba expressando isso também. Eu fiquei encantada. Cheguei lá, para estudar, muito pouco depois da queda do muro de Berlim. Fui para lá em 1993. Foi uma experiência muito bacana porque abriu outra perspectiva, a de pensar o território a partir de sua função social, política.
Nessa trajetória, acabei me juntando a um grupo de arquitetos que trabalham com essas questões: a organização social, a urbanização de favelas, os planos diretores. Fui trabalhar nessa área de planejamento urbano, nos dois lugares, e isso foi muito interessante. Como assessora dos movimentos para moradia, trabalhei na perspectiva das questões da arquitetura como pontos para entendermos o que são os modos de vida. A discussão do projeto participativo e toda a ideia de produção de conhecimento começou a ter essa perspectiva mais ligada às questões sociais e humanas, antropológicas. Eu trabalho há mais de 15 anos com planejamento urbano. Trabalhei em secretarias de habitação aqui no Estado de São Paulo, na região metropolitana, em Guarulhos, Taboão da Serra, Diadema, atuando em urbanização, como gestora pública, geralmente na área de coordenação de urbanização e assentamentos precários. Tem essa coisa de estar o tempo todo dentro dessas regiões, trabalhando com essas questões de melhoria habitacional. Por conta dos professores e dos arquitetos com quem fui cruzando nesse projeto formativo, fui trabalhar com as assessorias técnicas, de habitação, fazendo a assessoria para os movimentos de moradia. Também foi muito interessante trabalhar desses dois lados e entender como a política pública ou a gestão pública e as demandas da sociedade civil estão alinhadas ou não, em que compasso essas coisas acontecem. Isso sempre me encantou bastante, a questão da participação da sociedade civil e essa relação com a gestão pública. Esse é um grande interesse de pesquisa, a área de mapeamento.
Em 2007, eu tive uma experiência na coordenação do Programa de Urbanização de Favelas da Secretaria de Habitação de Taboão da Serra. Todo o trabalho de urbanização envolve o desenvolvimento de um trabalho social, envolve uma equipe multidisciplinar. Mas, na grande maioria das vezes, esse trabalho social fica muito limitado às questões burocráticas sobre como pagar água, luz, essas coisas mais pragmáticas e objetivas. Eu e a minha equipe construímos um projeto social, mas tentando olhar para essa perspectiva da cultura e dos modos de vida. Como vamos construir, como vamos projetar um espaço se não entendermos como as pessoas o vivenciam? Isso tem uma ligação direta com as questões culturais, com as questões artísticas. Acabamos desenvolvendo um mapeamento cultural, fizemos uma rádio comunitária, havia um jornal. Houve um envolvimento dos jovens nesse processo de urbanização. Geralmente as pessoas que se envolvem são chefes de família, o pai e a mãe. Os jovens, as crianças e os idosos muitas vezes ficam apartados desse processo de discussão. Era muito importante para a gente entender, já que estávamos interferindo naquele espaço.
Essa experiência abriu uma janela e eu acabei indo para o Instituto Pólis, a convite do Hamilton Farias, do pessoal do Núcleo de Desenvolvimento Cultural, para o mapeamento artístico da Zona Sul de São Paulo. Essa pesquisa acabou ficando conhecida como “Santo Amaro em Rede: culturas de convivência” e foi um laboratório muito interessante. Em 2008, havia uma discussão, ainda bastante insípida, sobre as culturas periféricas. Minha entrada neste campo não era pela cultura, era pelo viés da urbanização. Então, conheci muitas lideranças comunitárias, que foram fazendo essas ligações. Essa pesquisa foi uma encomenda do SESC [Serviço Social do Comércio] São Paulo e foi uma possibilidade muito interessante de trabalhar as questões do território.
Vimos o território como uma categoria de análise para pensar como as práticas culturais se apropriam do território, como se apropriam da política. Foi uma pesquisa bastante densa, que tinha uma grande equipe, que tinha dinheiro. Isso era ótimo. Conseguíamos fazer um trabalho de campo muito legal. Foi uma experiência bem interessante. A partir daí, comecei a trabalhar essas questões de pesquisa. Fui fazer meu mestrado em Estudos Culturais. Peguei, dessa pesquisa Santo Amaro em Rede, desse mapeamento, uma inquietação. A grande maioria das práticas que mapeamos não tinha acesso a recurso público e o único recurso público que aparecia era o Programa VAI [Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais, da Secretaria de Cultura do Município de São Paulo]. Eu acabei fazendo um esforço para entender esse programa, que é muito interessante. É fundante para entender o movimento cultural na cidade de São Paulo. Foi esse exercício que fiz.
A partir do programa VAI, acabei me envolvendo com os movimentos, foi muito bacana. Fiz um programa forte com a Agência Solano Trindade. Eles estavam trabalhando questões de financiamento, e isso é algo emergente. Se você está em um lugar que não tem nada, as questões de financiamento são importantes. Por isso o empreendedorismo tem engolido também, em grande medida, esses territórios. É uma emergência. Esses grupos começaram a se mobilizar. O programa VAI começou como uma política de juventude, muito ligada a uma política de ação afirmativa, mas teve um grande impacto. Nesses últimos anos, a política foi sendo mediada e implantada no executivo, em interlocução com os movimentos culturais. Estou contando minha trajetória, mas, na verdade, estou contando também a história dos movimentos. Estou fazendo esse paralelo.
[Sharine] Estou achando ótimo porque assim vamos direcionando a pesquisa para os movimentos que depois acabaram contribuindo com a Lei Aldir Blanc.
[Ana Paula] É difícil descolar minha trajetória profissional desse movimento, dessa linha do tempo. Eu sou pesquisadora, mas tenho uma relação com a prática, com essas questões de militância. Tento trazer a contribuição do meu conhecimento para a militância. Acho que fica mais fácil colar. Vou contextualizando e contando como meu percurso tangencia esse processo. O Programa VAI é superimportante. Eu fiz esse recorte. Quando acabou a pesquisa do Santo Amaro em Rede, a questão do Programa VAI ficou muito forte. Todos os coletivos de jovens que entrevistamos conheciam o Programa VAI, já tinham mandado projetos, tinham sido contemplados. A própria história do Programa VAI é interessante. Não é uma política que nasce da gestão para o território. É uma política que envolve movimentos acadêmicos, que tem a Helena Abramo[1] para trazer essa discussão sobre a juventude de uma forma muito importante para pensar sobre o jovem como sujeito de direitos e não como “algo transitório para o qual não vamos olhar”. Ela participa de uma pesquisa, no início dos anos 2000, pela Fundação Perseu Abramo, sobre a juventude no Brasil. A discussão do programa VAI não surge por uma demanda de política pública de cultura ou de fomento à cultura. Surge de uma discussão, de uma mobilização da sociedade civil e de jovens, a grande maioria da periferia. São instituições que trabalham com os jovens da periferia, como o Instituto Pólis. Eles se mobilizaram na Câmara dos Vereadores, no início dos anos 2000, para reivindicar uma comissão de juventude. O Nabil Bonduki[2] estava envolvido, a Helena Abramo também era de seu gabinete na época. Instituiu-se essa comissão de juventude, que foi a primeira do Brasil. Por que estou falando de juventude? Porque, para trabalhar com o programa VAI, precisamos olhar a partir da perspectiva da juventude. Hoje é uma outra coisa, mas ele bebe muito nessa fonte. O programa VAI não cria grupos de militantes. Esses militantes já estavam lá, já estavam militando em outras pautas. Isso é importante. A cultura já estava lá. O teatro comunitário tem um papel muito importante na formação desses movimentos. O movimento negro também estava nas bases. Há uma relação forte também com o movimento Hip-Hop. A Pastoral da Juventude tem um papel superforte. Os teatros comunitários, em grande medida, estavam dentro das pastorais. Isso traz uma efervescência muito grande. É política de muitos agentes.
Quando falamos da periferia, é importante deixar claro que são muitas periferias, são contextos muito diferentes. Analisar o programa VAI foi interessante porque peguei toda a cidade de São Paulo para trabalhar um pouco com esses imaginários, a mobilização… Eu nasci na Zona Norte, sou da Vila Nova Cachoeirinha. Então, também tinha todas essas questões para mim, como uma periférica que estudou arquitetura e tinha essas questões envolvidas com habitação. A cultura trouxe muitas questões que ainda estou digerindo, em processo. Acho que hoje já temos uma bibliografia que superou isso. Os próprios movimentos culturais da periferia reivindicam muito a questão de não homogeneizar: não é a periferia, são periferias. São contextos completamente distintos, que envolvem uma série de outros elementos, sobretudo culturais, que vão mediar essas relações, as construções de sociabilidade e de resistência. É a mobilização para a luta política. Por exemplo, a Zona Norte sempre teve uma perspectiva de moradores muito mais de direita. Na rua onde minha mãe mora até hoje, as pessoas votavam no Jânio Quadros[3], no Paulo Maluf[4]. Hoje há muita gente mobilizada. A própria subsecretária de cultura, a Ingrid Soares[5], é da Brasilândia e agora está fazendo um trabalho superbacana de gestão, está fazendo essa mediação com os grupos. Ela vem do movimento cultural. Foi jovem monitora cultural, outro programa que foi construído na gestão do Haddad[6]. Mesmo mudando de gestão, ele teve algumas continuidades, embora tenha sofrido mudanças de formato. Ele deixou uma juventude muito articulada para pautar não só um lugar de escuta, mas um modo de estar no espaço, fazendo a política, como gestor, como político. Acho que os movimentos culturais na cidade de São Paulo são de uma potência muito grande, de ver essas articulações. Também é muito importante que a universidade esteja presente no território, como na Zona Leste[7]. Há um movimento muito interessante, um grupo de estudos que se chama CEP [Centro de Estudos Periféricos], formado por professores da UNIFESP [Universidade Federal de São Paulo], do curso de arquitetura ou de geografia: o Tiaraju Pablo, a Silvia Lopes, o Guilherme Petrella têm trabalhado essas questões de construir o conhecimento junto com as pessoas que estão no território. Há muitos pesquisadores periféricos nessa identidade que alguns têm reivindicado.
[Sharine] Como esses movimentos periféricos contribuíram na formulação ou na implementação da Lei Aldir Blanc? Como eles se beneficiaram também dessa lei?
[Ana Paula] Antes disso, vou contar um pouquinho… O Programa VAI mostra a democratização da possibilidade de acesso aos meios de produção. Ter o fomento no território permitiu que esses grupos se desenvolvessem. Hoje, vários deles já acessam a Lei de Fomento ao Teatro, a Lei de Fomento à Dança… Esse movimento periférico envolve uma série de conflitos e questões. Em 2012, no Governo Haddad, já havia uma discussão dos grupos, sobretudo da Zona Sul, puxados pelo Fórum Livre da Zona Leste. Eles construíram uma coalisão com coletivos de outras áreas da cidade para discutir uma lei de fomento popular, que hoje é conhecida como Lei de Fomento às Periferias. É uma lei de fomento que foi inspirada no VAI, no Fomento ao Teatro, em outras experiências, para pensar um fomento regular e não mais amador… No VAI, não necessariamente as pessoas são amadoras… Mas havia a necessidade de abrir espaços no teatro… Acaba entrando um pouco nesse aspecto. Essa lei foi aprovada, tem sido executada desde então. Não houve nenhuma interrupção, embora, com as mudanças de gestão, mude também o formato… Mas a lei está firme e forte, como o VAI. Isso gerou uma mobilização muito grande dos movimentos.
Em um primeiro momento, essas lideranças, que estão mais ligadas à formulação da política do fomento às periferias, não estiveram tão próximas da discussão sobre a formulação da lei Aldir Blanc. O que aconteceu foi que muitos desses coletivos foram tratar de urgências maiores, como arrumar a cesta básica para a galera que estava passando fome. Não sei como será agora, mas já vi postagens de coletivos pedindo ajuda para fazer a cesta básica, porque as coisas estão piorando[8]. Tem essa questão que atravessou, que são outras urgências. Claro, esses agentes precisam, muitos acessaram os editais da lei Aldir Blanc, foram contemplados, mas não necessariamente nesse primeiro momento. Nessa primeira mobilização, não houve uma presença em peso como nas conferências[9], na elaboração do Plano Municipal de Cultura porque havia outras urgências. São coisas também políticas. Estou falando dos movimentos culturais das periferias… Agora vou fazer a introdução dos outros movimentos, embora minha trajetória esteja mais ligada aos movimentos culturais das periferias.
Temos outra movimentação superforte, não só os movimentos periféricos, mas também os movimentos culturais aqui na cidade de São Paulo: a Cooperativa Paulista de Teatro, a Cooperativa Paulista de Dança. São classes mais organizadas que, historicamente, já fazem parte da discussão sobre políticas públicas da cidade. Acho que é isso. Se pegarmos as duas primeiras conferências, tínhamos as classes organizadas: teatro, dança, música. Na conferência que tivemos, em 2013, havia outras identidades reivindicando a discussão do acesso à política pública. A conferência também é um marco interessante para pensar sobre a política cultural na cidade de São Paulo. Temos, nessa conferência, uma série de novos atores culturais, os periféricos, os negros, grupos que historicamente não ocupavam esses espaços. Na formulação da Lei Aldir Blanc, as outras classes de que falei: as cooperativas, os gestores, os produtores, o pessoal que trabalha nessa produção cultural mais profissionalizada ou, digamos, mais hegemônica ou que está mais no mercado, fazem outra mobilização. A mobilização aqui em São Paulo tem sido muito forte, tanto no nível estadual quando no nível municipal. Só que já tínhamos outras mobilizações rolando antes disso. Não dá para falar: “surgiu a Lei Aldir Blanc e todo mundo se organizou”. Não, já havia o FLIGSP [Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo], já havia a Frente Ampla da Baixada Santista, uma série de outros movimentos, municipais, regionais ou estaduais.
A FLIGSP pega todo o estado de São Paulo e o litoral. Tem uma turma fantástica. Então, já havia essa movimentação. Há o Fórum das Culturas Populares, que é super antigo, do Tião Rocha, essa turma toda… Na cidade de São Paulo, havia uma mobilização, mas era mais individual. A galera das periferias, o pessoal dos teatros… Não havia uma grande mobilização de todos, mas havia coisas como a Cooperativa Paulista de Teatro, que é superforte aqui em São Paulo. A Cooperativa é sempre muito organizada, está trabalhando toda essa questão sindical. Eu tenho acompanhado e há coisas bem interessantes. O Dagoberto é polêmico, mas tem feito um trabalho muito interessante. O que havia mais nesse aspecto da política pública era a Frente Ampla Parlamentar, dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Lá tem uma pauta da cultura. A Inti Queiróz[10] frequenta muito. Também surgiu logo que o André Sturm assumiu a Secretaria de Cultura. Começou um desmonte de políticas que haviam sido construídas em um diálogo mínimo com a Sociedade Civil e que estavam funcionando. Então, várias pessoas se mobilizaram e constituíram essa frente. Elas têm atuado de forma bastante interessante. Há uma galera que é super dedicada. Eles sabem as condições do orçamento, acompanham o orçamento, propõem o orçamento… Já deram cursos sobre isso. A galera que mais manja disso são as pessoas da Zona Leste, dos movimentos periféricos da Zona Leste. Eles manjam muito. Deram aula, fizeram formação. Quando surgiu a Lei Aldir Blanc, o que aconteceu foi isso: os movimentos se colaram em uma mobilização geral. Eu lembro que, quando me colocaram no grupo de WhatsApp, havia 22 pessoas, depois havia gente implorando para entrar porque houve uma adesão grande.
[Sharine] Esse grupo chegou a quantas pessoas, você lembra?
[Ana Paula] Foi o limite: 245 participantes. São dois grupos, na verdade. Mas não participo do outro, senão ficam mandando mensagens iguais e eu piro. Mas foi muito bacana. Veio gente de tudo quanto é lugar. Veio gente do teatro… Havia muita gente mobilizada nas linguagens artísticas: teatro, dança, música, as cooperativas. Foi um momento interessante porque era época de eleição[11] e tínhamos muitos candidatos, que são militantes da cultura e que estavam no rolê. Havia umas tretas e tal. Mas era um pessoal muito qualificado para a discussão de política pública. A Secretaria de Cultura falou: “vou fazer do meu jeito”. Mas esse grupo conseguiu quebrar muitas coisas. Há os grupos Fórum da Capital e Fórum Estadual… Eu fiquei muito ativa até, mais ou menos, outubro ou novembro de 2020. Eu acompanho, vou a algumas reuniões, mas há um pessoal que é assíduo. A prefeitura falou: “vocês terão somente dois eventos aqui para discutir”. Houve uma eleição. Ganharam o José Renato e a Rita Telles.
Eu nunca vi tanta generosidade na vida! Tudo o que colocam, novecentas perguntas, o José Renato responde. Rita e José Renato ficaram como representantes para fazer a mediação com a Secretaria de Cultura. Eles faziam tudo, participavam, discutiam: “A Secretaria de Cultura usar 70% da verba para fazer edital…” Foram produzidos muitos materiais, estudos, coisas muito interessantes. Há pessoas altamente qualificadas na discussão de gestão, a ponto de pegar a lei, destrinchar, falar: “como estão discutindo em uma esfera estadual, nacional? Como, na prática, a mediação pode funcionar?” O trabalho na capital foi muito forte na mediação com a Secretaria de Cultura, de como estavam implementando. Barraram muita coisa inadequada que seria feita, e havia muita gente envolvida.
[Sharine] O que, por exemplo?
[Ana Paula] Por exemplo, não queriam reconhecer Pessoa Física. Estavam indo pelo lado jurídico: “vamos fazer tudo por CNPJ [[12]Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica]”. Foram diversas discussões para pensar em outra forma. Há a experiência do programa VAI. Há diversas políticas que atendem a Pessoa Física. Foi uma mediação neste sentido. Porcentagem, tipos de prêmios. Eu não tenho a competência para lhe falar especificamente quais coisas foram mediadas, mas o José Renato e a Rita saberiam dizer: “Isso aqui, tal edital, tal coisa ficou assim porque fomos lá…” Havia esse grupo maior, de umas oitenta pessoas. Houve um final de semana em que eu fiquei das 10h da manhã às 3h da manhã, sexta, sábado e domingo, participando das reuniões. É um pessoal que realmente mergulhou nisso. Eu acho que isso gerou muitos conflitos. É óbvio que é difícil trabalhar junto. Nessas mediações, sempre há questões. Mas geraram muitas colaborações também, como a participação da Capital no Fórum Estadual. A capital era muito distante da FLIGSP e das outras frentes. Isso também ampliou a colaboração, tanto que agora estão com a Frente Ampla, que está discutindo com o Sá Leitão. Estou acompanhando de longe. Acho que ali há questões bastante complicadas. Até que ponto vamos entregar a alma para defender o PROAC [Programa de Ação Cultural][13], a Lei de Incentivo e todas essas questões? Por outro lado, um monte de gente vai passar fome. A questão é essa. Sem dúvida, as questões da Lei Aldir Blanc permitiram uma ampliação dessas redes e das colaborações, não somente de trocas, mas de modo que as pessoas se conhecessem.
Eu comecei a acompanhar a Aldir Blanc, mais de perto, quando entrei no grupo da comissão da cidade de São Paulo. Depois, comecei a ampliar, a acompanhar no Estado e entrei em vários grupos. Fizeram grupos de WhatsApp, por regiões, para a discussão da lei. Eu participo de um monte deles. Não só na capital, pelo contrário, na Baixada Santista também há uma mega mobilização. São questões outras. Estou falando em termos territoriais do Estado de São Paulo. As questões que estão no Pontal do Paranapanema são diversas daquelas do Litoral. Nesse processo da Lei Aldir Blanc, além de participar desses fóruns e acompanhar, sempre deixei claro que tenho um interesse de pesquisa. Um dos tópicos do meu doutorado é a análise territorial da implementação da Lei Aldir Blanc. Que cartografias, o que esse cadastro vai revelar sobre as práticas culturais? Isso dará bastante pano para a manga. Minha ideia é começar a reunir esses dados para começar a fazer o mapa e entender de que cultura estamos falando, como cada município se apropriou disso, quem teve visibilidade e quem não teve. Pensando um pouco também sobre como o Estado se apropria dessas ferramentas sociotécnicas. O mapeamento hoje também permite pensar controle social. Quem propõe? Foi uma coisa que observei muito nesse processo da Lei Aldir Blanc. Eu e o Américo Córdula brigávamos muito, no bom sentido, brigávamos no sentido de discordar de algumas questões. Uma delas foi no momento da grande comoção: “Vamos fazer a Lei Aldir Blanc”, “vamos fazer o mapeamento”. Gente, pelo amor de Deus! Não temos um Sistema Nacional estruturado. Ele é totalmente falho. Há uma tentativa, mas não será agora, em um curto espaço de tempo, que faremos um grande mapeamento, como o Célio Turino divagava por aí. Até escrevi um artigo, com a Caroline Craveiro, sobre isso. Depois debati o artigo com a Silvana Meireles, lá de Pernambuco. Porque não é assim, não é padaria. O que estávamos colocando era: o que é preciso fazer? É preciso criar uma forma de conseguir cadastrar essas pessoas para que recebam o auxílio. Agora: “vamos fazer um grande mapeamento para falar sobre os modos de vida”. Cara, teve cidade que não fez, abiu mão, acabou fazendo edital. Porque, realmente, isso envolve um conhecimento técnico, envolve uma série de questões.
[Sharine] Sim, de pessoal também, não é?
[Ana Paula] Um dos meus maiores interesses é compreender como a Lei Aldir Blanc incorporou a pauta do cadastro. Quem pensou esse cadastro? Foram os secretários de cultura e programadores. Desde o começo, foi a técnica sobrepondo o conteúdo. O conteúdo do que vai ser o cadastro pouco importa, o que importa é fazermos uma coisa bem bonita, na internet, sem entender um segundo momento. No Ministério da Cultura, antes do golpe, eu participei de algumas reuniões do grupo para criar um formulário, uma ontologia, fazer um glossário da cultura. Quando você constrói categorias, está construindo leituras. Uma coisa que me incomodou muito nesse processo foi não terem deixado a sociedade civil participar. Eu queria participar das discussões com os programadores, como sociedade civil. Eu me apresentei e não responderam. Fui falar com o Américo Córdula: “Você é desenvolvedora?” “Não, sou pesquisadora. Eu pesquiso essas ferramentas. Quero acompanhar. Posso, sim, ceder meu conhecimento, se eu puder contribuir”. Não me deixaram participar. Ficou uma coisa fechada a decisões da gestão pública. Minha insistência também foi proposital para saber até que ponto a política seria permeada para falar: “Vem, Ana, vamos discutir. Quem mais quer discutir?” Foi o contrário. Esse domínio, que é técnico, é um domínio de conhecimento. Tem muito esse negócio: “é uma lei inovadora”. Não, acho que precisamos olhar, entender o contexto. Não tinha mesmo como fazer milagre, fazer o mapeamento a partir da Lei Aldir Blanc. O tempo era exíguo. Tínhamos que ser inteligentes e ver como mobilizar pessoas que estão invisíveis no território. Não adianta fazer um formulário na internet – essa era minha briga – e achar que as pessoas, magicamente, vão entrar e preencher. Mapeamento precisa de mediação, e a mediação começa com seu entendimento sobre cultura, para validar no seu município: quem você vai mobilizar, como você vai mobilizar? Isso foi uma coisa bastante cara.
Nesse processo como um todo, acabei sendo convidada para um programa de formação, junto com a Carolina Oliveira e o Ivan Montanari. Somos todos pesquisadores de São Paulo. Eu e a Carol trabalhamos juntas no CEBRAP [Centro Brasileiro de Análise e Planejamento], temos um tempão de parceria. O Ivan é de Bragança Paulista e está fazendo mestrado em Políticas Públicas na USP Leste. Ele é um cara muito bacana. Fomos convidados, os três, pelas oficinas culturais, para pensar um programa de formação para os gestores públicos e para a sociedade civil no processo de implementação da Lei Aldir Blanc. Eles estavam sendo procurados pelos gestores, havia essa demanda, mas precisavam pensar como poderiam montar uma formação que desse conta do contexto. Foi muito bacana porque pegamos mais de 400 municípios. Até escrevemos um artigo que agora está em revisão. Esse processo foi muito interessante. Na primeira etapa, a Carol Craveiro também estava na formação. Montamos um primeiro módulo que abordava o espírito da lei e que depois entrava em questões mais práticas: o que é a Plataforma Mais Brasil? Como entrar, como acessar? O que é o cadastro? O que é preciso pensar? Como o cadastro conversa com a lei? Falamos da questão do território, incisos I, II, III, essa coisa toda. Essa experiência foi muito bacana porque falamos com mais de 500 gestores e pessoas da sociedade civil, com muita gente dos conselhos e, principalmente, com quem estava envolvido com a Lei Aldir Blanc. O retorno foi muito bacana. O pessoal levava as questões e tentávamos resolver. Foi um termômetro muito interessante.
[Sharine] Essas 500 pessoas eram só do Estado de São Paulo? Você não está falando em âmbito nacional. Você está falando só de São Paulo.
[Ana Paula] Essa formação foi só do Estado de São Paulo. Depois, fiz formações com outros estados, pelo SESC também. Mas a interação não foi tão grande. Esse curso do estado de São Paulo durou quatro meses em uma primeira etapa e, depois, mais dois meses com outras coisas que percebemos que precisávamos aprofundar. Vamos repetir, agora em março de 2021, o curso sobre a prestação de contas, para dar essa assessoria. É uma formação meio bate-bola. Eles trazem as questões, tentamos resolver. Se não conseguimos resolver, damos um retorno depois. Pudemos acompanhar a implementação da lei em muitas cidades, fora aquelas com as quais me envolvi no Vale do Ribeira. Sou apaixonada pelo campo e pelas pessoas lá do Vale do Ribeira. Eu me envolvi visceralmente na constituição do comitê, no edital, no mapeamento. Mas isso é outra história. Foi muito bacana também. Mas eram municípios que tinham articulação zero na cultura. Por isso, eu falei: “Vamos lá”. Eles falavam: “Vou devolver o dinheiro”. Eu dizia: “Não! Tem um monte de mestres da cultura, artesãos”. “Vamos lá, nós vamos juntos”. Foi uma experiência.
[Sharine] Eles conseguiram aderir à Lei Aldir Blanc?
[Ana Paula] Conseguiram. Itariri e Iporanga, duas cidades. Cananeia também. Mas, em Cananeia, participei de algumas coisas. A galera de Cananeia é incrível, são super articulados, tentaram um edital muito bacana de distribuição para todos. Nós nos inspiramos, tanto em Iporanga quanto em Itariri, também nisso. Nessa formação com os gestores surgiram muitas questões, principalmente, e acho que é o que lhe interessa, a relação entre a sociedade civil e a gestão pública. É a grande treta. Nas cidades em que já havia algo azeitado, foi mais tranquilo. Não estou dizendo que foram mil maravilhas porque também tem isso. Às vezes o movimento quer uma coisa, mas a burocracia, a máquina pública engessa. Você sabe disso, você é gestora pública. Às vezes, é muito difícil para o movimento entender. Para mim, isso ficou muito claro quando fui gestora pública de um município que fica lá na ponta. Depois passei pelo Ministério das Cidades, mas essa é outra questão. Então, a grande maioria dos municípios teve grande dificuldade. Temos o Sistema Nacional de Cultura e muitos municípios aderiram, mas a grande maioria nem sabe o que é. Para pensarmos sobre a lei Aldir Blanc, precisamos pensar em pelo menos três camadas: municípios de pequeno, médio e grande porte. Se você pegar a relação de população, a grande maioria é de municípios pequenos. Neles, a questão da institucionalidade da cultura é praticamente zero. A grande maioria nem secretaria tem. A questão da institucionalidade começa a aparecer em cidades de médio porte. Isso é uma coisa que, nesse processo da Lei Aldir Blanc, emperrou muitas coisas. O gestor não tem ideia. Essa também foi outra demanda que apareceu forte na relação entre sociedade civil. Essas dificuldades foram grandes. Muitas cidades tinham conselho, mas a mediação do conselho… Há muito conselho protocolar. Tinha uma associação do Vale do Ribeira que estava no Conselho de Cultura e nem sabia. Essa coisa protocolar. Para mim, essa questão do conselho acendeu muitas luzes vermelhas. Coisas de que já sabíamos por conviver com essas pautas e trabalhar com formação de conselheiros…
[Sharine] O que, por exemplo?
[Ana Paula] Essa coisa protocolar. A pessoa está no conselho de cultura, mas não tem ideia do que é aquilo. Muitas vezes está ali para assinar papeis. A pauta da participação pegou, não só pela esquerda, mas também pela direita. Pegou muito forte e não percebemos. Muitas vezes não aparece, mas está totalmente incorporada. Para receber verba, por exemplo, para receber verba do Ministério do Turismo ou do Governo do Estado, que tem injetado muita grana nos municípios, é preciso ter uma espécie de sistema nacional de turismo. Não chega a ser um sistema municipal de turismo, mas tem lá a regionalização, tem dinheiro. Para ter o dinheiro, tem que ter conselho, tem que ter fundo. Quando você pega os municípios pequenos, a grande maioria tem Secretaria de Cultura, Esporte, Meio Ambiente… Não estão separadas. São pautas que estão sendo ocupadas. Muitos conselheiros se queixam. Eu entendi um pouco a dificuldade de dialogar com a gestão por parte de quem estava a fim de trabalhar. Acho que há a questão da baixíssima qualificação dos gestores, sobretudo das cidades de pequeno porte. Digo de conhecimento de gestão. Essa coisa que desenvolvemos nas oficinas culturais foi bastante didática. Havia coisas básicas que precisávamos falar para eles: o que vocês vão mapear depende do que vocês, gestores e outras pessoas, vão legitimar e reconhecer como cultura. Se vocês não legitimarem e não reconhecerem, por exemplo, o artesanato, ele não entra na Lei Aldir Blanc. São departamentos, diretorias ligadas às prefeituras, sem nenhuma estrutura, sem institucionalidade, muitas vezes sem nenhum orçamento. Há cidades, no Estado de São Paulo, em que o orçamento é de R$ 20 mil reais. Na cidade de Itariri, até 2018, o orçamento era de R$ 20 mil. Eu trabalhei na implementação da lei lá. A cidade recebeu R$ 150 mil. Imagina! A Diretora de Cultura nem sabia o que fazer! Como não havia nenhuma estrutura, organizamos um comitê gestor. Tinha uma coisa muito bacana: ela era super envolvida com a cultura local. Isso também fez toda diferença. Ela conhecia tudo o que era terreiro, conhecia todas as comunidades indígenas, conhecia todos os artesãos. Praticamente, conhecia a cidade toda.
[Sharine] Para irmos terminando, poderíamos falar sobre o legado da Aldir Blanc para o Sistema Nacional de Cultura e para essas cidades menores, para as periferias, para os grupos que normalmente têm menos acesso aos editais, às políticas públicas para a cultura.
[Ana Paula] Não serei maniqueísta [risos]. Acho que temos experiências de todos os tipos. Nas cidades que conseguiram ter, minimamente, um diálogo entre sociedade civil e gestão pública, essa cartografia é muito mais ampla, muito mais generosa. Tem uma questão: a maioria das cidades nunca recebeu recursos. O fato de o recurso chegar foi muito importante. A grande questão é: quantos desses municípios conseguiram, de fato, acessar o recurso. Uma coisa é se inscrever na Plataforma Mais Brasil. Eles aprovaram quase tudo. Na verdade, não aprovaram somente quando sorteavam. Um amigo meu, que estava trabalhando nisso, me falou. Eles pegavam uma cidade aleatoriamente e percebiam alguma coisa. Mas a grande maioria foi aprovada. A grande questão é que acessar o recurso não é uma coisa fácil. É uma grande dificuldade. O curso que fizemos era voltado para isso. Como fazer o dinheiro chegar? Se você não fizer o plano de ação, se você não fizer tal coisa, se não programar o pagamento… Eu os enlouquecia com essa coisa: “Se não programar o pagamento até 31 de dezembro, acabou!”
[Sharine] Foi didático para que aprendessem a lidar com o dinheiro público, com repasses.
[Ana Paula] Foi uma experiência nova para muita gente. Depois, eu participei de um grupo focal que gerou uma pequena publicação da oficina municipal, sobre a experiência dos gestores com a Lei Aldir Blanc. Eles trazem essa dificuldade entre sociedade civil e gestores. É uma dificuldade que a Lei Aldir Blanc aponta. É muito importante olharmos para isso. Acho que é necessário. Outras questões vêm à tona: a falta de institucionalidade, a baixa capacitação, processos e trâmites trazidos pela lei. Para uma lei emergencial, foi muito burocrática. Foi bastante tortuosa para executar. Eram 80% do Brasil. Tem que entrar no Portal do Governo e ver direitinho. Mas vamos saber agora quem, de fato, conseguiu executar. Todos esses trâmites exigiam uma complexidade de entendimento da gestão, um diálogo entre os próprios setores da prefeitura. Essa foi outra questão. A transversalidade apontou de uma forma bastante significativa. “Não quero fazer nada sem o jurídico…” Esse também foi um ponto que trouxeram. Mas quem estava conseguindo executar teve a comoção de descobrir que seu município não precisa fazer programação com a cultura da metrópole. “Na minha cidade tem artistas, tem uma cultura local que não necessariamente é uma linguagem artística, mas é uma senhora que produz artesanato…” Para os gestores que participaram do processo, isso foi superimportante. Temos municípios que se apropriaram disso de outra forma, promovendo ações ligadas à religião. Há uma cidade, não sei se é Cajati, não tenho certeza, de que eu recebi uma programação que era toda assim: Marcha de Jesus. Ou acabaram legitimando os mesmos, que já estavam instituídos na política local.
Eu, o Ivan e a Carol trabalhamos bastante esse tema na formação. A responsabilidade foi dos municípios. Então, eles tinham a oportunidade de fazer coisas bacanas e tinham a oportunidade de fazer coisas horríveis. Houve cidade que não pagou os artistas. Houve cidade que fez as coisas totalmente sem diálogo. A classe artística ficou enraivecida, mas não conseguiu fazer nada. A lei fala do conselho, fala do comitê gestor, mas não necessariamente a cidade tem que fazer isso. A cidade de São Paulo fez do jeito que queria. Isso ficou muito frouxo na lei. Houve cidade que não teve interesse. Eu ouvi isso de um secretário: “Não vou pegar recurso para dar dinheiro para vagabundo“. E deixou morrer. Outros até queriam, mas quando viram a burocracia enorme… Esse foi o caso de Ribeirão Grande. Eles estavam com algo semelhante na área de turismo. A Secretária de Turismo e Cultura falou: “Tenho que escolher, um ou outro. O recurso do Turismo é muito maior. Sinto muito”. Eram ela e o estagiário. Há todas essas questões que têm um impacto direto no resultado da Lei Aldir Blanc em cada território.
Acho que, para pensarmos se o legado fica, temos que fazer o seguinte exercício: em que escala? Qual foi o impacto, quais foram as realizações? Porque assim podemos começar a pensar em comparativos. Pensar em um aspecto geral não é pensar nos municípios. É pensar em municípios de pequeno, médio e grande porte. A cidade de São Paulo contratou a melhor assessoria jurídica, contratou não sei quem para fazer o site. Ela tinha dinheiro. Em Itariri, pagamos o xerox, por exemplo, eu e a Secretária de Cultura. Falamos: “Vamos lá, a gente paga o xerox para fazer”. É um abismo muito grande. Isso porque estamos falando do Estado de São Paulo. Mas o próprio Estado de São Paulo tem nuances completamente distintas. Pegamos a Baixada Santista e o Vale da Ribeira, que estão contíguos, e são realidades completamente diferentes. Acho que a questão da inserção da bandeira política fez toda a diferença no resultado de cada município. A cidade de Eldorado perdeu recursos, nem se inscreveu. Alguns municípios não mexeram um dedo. Alguns municípios disseram: “Me dá esse recurso aqui, vou fortalecer a cultura que já legitimamos”. A cultura gospel, a cultura evangélica, é superforte no Vale da Ribeira. Trabalhei lá três anos e vi que as ações da secretaria eram sempre voltadas ou para o fomento à produção artística mais ligada às linguagens, cursos de teatro, cursos de dança, ou para eventos das festas religiosas, que são muito fortes, principalmente as católicas, como a de Bom Jesus de Iguape. São festas muito rentáveis porque há uma pauta atravessando – a do Turismo – que está superforte, principalmente hoje, com essas questões de diversidade cultural. É o caso do Vale do Ribeira. Tem tudo lá. Só que a Cultura está olhando para tudo muito em um viés mercadológico, como um produto. Não sei se respondi…
[Sharine] Foi ótimo. Você respondeu várias questões. Para terminarmos, você poderia falar um pouco sobre a relação dos profissionais da cultura e dos artistas com as instituições culturais, tanto as pequenas, as de bairro – você trabalhou na periferia e conhece bem os pontos de cultura, os teatros de bairro, os centros comunitários – até a Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo…
[Ana Paula] Acho que o Programa Cultura Viva[14] tem essa importância porque traz visibilidade para outras práticas, outras possibilidades. Se pensarmos o que é um espaço de cultura, acho que é importante. Hoje estamos vivendo um momento em que as diversas pautas identitárias estão em evidência para o bem e para o mal, se pensarmos em como as empresas têm se apropriado da imagem de várias identidades. Ao mesmo tempo, há uma ocupação desse espaço. Acho que é superimportante. As candidaturas para vereadores[15], não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil como um todo, trouxeram outros atores sociais: o movimento negro, as mulheres. Isso tem a ver também com a relação com essas instituições. Afinal de contas, algumas delas já vinham trabalhando essas pautas: o SESC, a Funarte[16], outros programas que já existiam e que trazem isso à tona com o Programa Cultura Viva, com toda essa discussão sobre diversidade que a política pública abraça. Até o Governo de Fernando Henrique Cardoso[17] não existia essa discussão, não se pensava nisso de uma forma mais ampla como Gilberto Gil[18] traz em sua gestão. Acho que isso também tem um reforço não somente da gestão Gil, mas de uma discussão internacional a respeito. Há os marcos internacionais da UNESCO e as próprias diretrizes de políticas culturais de instituições como SESC e Itaú Cultural. O SESC, principalmente, trabalha com essa questão dos marcos internacionais e há a própria finalidade da instituição, a transversalidade com o social. O SESC trabalha com refugiados muito antes disso aparecer em uma pauta pública. Mas ainda são instituições engessadas, dentro desse quadradinho fechado, do que é legitimado, do que é reconhecido.
Tem uma coisa interessante no mapeamento Santo Amaro em Rede. Você está falando das instituições e vou falar de uma experiência com relação a isso. Começamos a fazer essa discussão com o SESC em 2006, 2007, e a pauta da diversidade, o trabalho com grupos de refugiados, a educação para a interculturalidade já estavam ali. Mas era todo um trabalho para a difusão. A cultura periférica não era reconhecida porque não era nem conhecida por esses gestores. Uma primeira experiência foi pegar um mapa oficial da cidade de São Paulo, que incluía a Zona Sul. A Cidade Dutra para baixo não existia nesses mapas. Eram mapas de banca de jornal. Hoje não sei se existem. Mas, na época em que fiz o trabalho, comprei em banca de jornal: “Eu quero um mapa da cidade de São Paulo, um mapa que o turista compra, um mapa para me locomover”. Não tinha os bairros da Zona Sul. Não existir no mapa já é algo muito simbólico. Uma unidade do SESC seria construída em Santo Amaro, que, naquele momento, era um grande portal entre a cidade formal e a informal. Hoje já temos uma distribuição melhor do transporte público, mas, naquela época, em 2007, para sair do Grajaú e chegar ao Centro, você tinha que passar por Santo Amaro. Tudo passava por Santo Amaro. Em princípio, falaram: “Queremos um mapeamento de um quilômetro de raio da unidade nova com grupos formalizados”. Falamos: “Não precisa fazer. Vai ao Google que você vai conseguir”. A questão era atravessar essa ponte. Acabamos criando um grupo que se chamava Microfísicas da resistência, que era formado pela galera do grafite e do rap. Fizemos exposições de fotografia, umas coisas bem legais. Teve essa aposta da equipe: vamos atravessar a ponte. E foi muito bacana porque saiu um pouco de um entendimento de que precisamos fazer programação para eles para entender que eles estão fazendo a programação. O conceito da democracia cultural ficou bem nítido para eles na prática, Eles já estavam fazendo. Monte Azul já tinha uma mostra de teatro muito forte. Em 2008, começamos a cutucá-los com esse mapeamento. O que esse mapeamento trouxe? “Vocês não vão lá pegar informação e levar… Não, vocês vão para o campo, vão mediar”. Como a unidade não estava pronta, o que o SESC começou a fazer? “Vamos fazer juntos, lá no seu território”. Isso deu outra dimensão: não era só público. Eram produtores também. Isso gerou questões. Como contratamos essa galera que não está formalizada? O SESC teve que começar a olhar.
Hoje, o projeto é uma referência na instituição porque arrebentou as portas do SESC para o movimento da periferia. Isso não sou eu, Ana, que estou dizendo, nem o SESC. São os movimentos. Quando começaram a conhecer, a mapear, o que aconteceu? A programação do SESC Santo Amaro virou a programação para difundir esses artistas. Hoje, quando falamos sobre isso no SESC, não é nada. Todas as unidades estão trabalhando com esses artistas. Eles estão na pauta. Só que houve um exercício de quebrar essa barreira. Uma vez falei para um gerente: “Vocês vão contratar esses artistas, mas não venham com esse discurso de que vamos pagar o ônibus e o lanche”. Eles são artistas. A primeira coisa é reconhecer o fato de que estão em um território vulnerável, mas o que isso muda? Veja o quanto isso mexe com a cultura institucional. Hoje não tem nem o que discutir, é natural. Essa galera está na programação, como produtores e não só como público.
[Sharine] É lógico. Eu pessoalmente, não como pesquisadora, como administradora na Funarte, acho que os melhores espetáculos que já tivemos, que mais atraíram público, que foram mais potentes, foram os espetáculos – falo em espetáculos de teatro, dança ou exposição de artes visuais – que vieram das periferias, de Capão Redondo… São muito competentes, muito profissionais em todos os sentidos. E têm uma potência que às vezes o pessoal que está no Centro não consegue, de trazer público, de fazer as pessoas se envolverem com aquilo. Acho muito bacana.
[Ana Paula] É um pouco isso. As instituições vão se aproximando. No Vale da Ribeira, o choque foi: “Nossa, não é a cultura com a qual estamos acostumados a trabalhar na programação”. Foi isso: “Gente, vocês atendem a 27 municípios, sendo que 80% desses municípios são de população rural. Vocês não irão encontrar grupos de teatro aqui. Podem até encontrar, mas eles têm outra dimensão. Vocês vão encontrar uma galera trabalhando com a questão agroflorestal, trabalhando com as questões alimentares de uma outra forma”. Para as instituições, é sempre um choque. Não sou eu, Ana, que estou elaborando isso. Quem está elaborando é o campo. Lá em Santo Amaro foi muito legal. Quando perceberam a potência disso, a equipe de Santo Amaro soube trabalhar muito bem. Tanto que, em Campo Limpo, hoje, há outra relação. Mas não foi o mapeamento que mostrou isso, claro que não. O mapeamento foi uma única ferramenta. A potência, quem transforma, dá a narrativa, a relação com a instituição são os movimentos. Isso foi bacana. Eles se apropriaram desse canal de comunicação para começar a reivindicar. Foram lá durante a pandemia, convocaram uma reunião com Danilo Miranda para falar: “Como o SESC vai discutir essas questões emergenciais?”
Mas ainda temos processos muito engessados para pensar o que é essa mediação. Não é muito diferente de pensarmos a relação com as gestões públicas. Há os tensionamentos, sobretudo quando falamos de instituições de bancos. O Itaú Cultural faz um monte de coisas sobre essas pautas. Eles já estão lá na pauta, mas ainda há resistência de muita gente. Qual a apropriação disso? É interessante pensar essa relação dos artistas com as instituições. Por um lado, são ligados ao mercado. Mas há grupos muito politizados, discutindo. A precariedade do nosso campo muitas vezes não permite isso. Os grupos vulneráveis, como o movimento negro, hoje se apropriaram dessas pautas das instituições. As instituições têm dialogado. Acho que há uma abertura muito grande para isso. Mas, assim como nas políticas públicas, acho que ainda é uma fatia muito pequena. Não é uma cota, mas se pensarmos que essa produção é muito mais ampla do que as outras pautas, ainda é pequena a fatia de recursos, de olhares e atenção para esses movimentos – estou falando daqueles ligados à pauta da diversidade, não estou falando das linguagens artísticas. Mas, se pegarmos os fomentos ligados às linguagens artísticas e os fomentos mais ligados a essas ações afirmativas, que são importantes e necessárias, até mesmo para que esses agentes possam acessar esses outros fomentos, estamos na fase zero. Ainda é muito pouco. Falamos: “Tem o programa VAI”. Tem, mas é desse tamanhinho. Mas acho que essas relações com a instituição já mudaram bastante. A grande questão não é somente entender esses movimentos culturais como público ou como uma demanda a ser atendida. Não, eles estão dentro da pauta da produção, da criação. Estão ocupando esses espaços. As instituições estão apoiando, seja por um bom motivo ou só por um motivo, o de trabalhar a marca. Não podemos esquecer disso. Temos grandes empresas, como O Boticário, Natura, Vivara, cuja pauta agora é a mulher: “Vamos apoiar o feminismo”. Até que ponto é um reconhecimento da legitimidade ou é porque minha marca tem que apoiar isso? O campo da cultura traz essas contradições. É um campo de disputas o tempo todo.
O processo da Lei Aldir Blanc também tem todas as contradições, principalmente daqui para frente. Os movimentos estão mobilizados em torno disso. Ou de ter uma nova Lei Aldir Blanc ou de como, a partir dessa experiência, essa militância pode se organizar melhor, se estruturar melhor, e mobilizar mais gente para essas discussões. Acho que essas relações entre classe artística, gestão e instituições estão muito imbricadas por essas mediações, por interesses políticos. Minha opinião é essa sobre as instituições. Estou participando de uma atividade, com a Livia Tommasi, da Universidade do Federal do ABC. Estamos discutindo metodologias de pesquisa qualitativa. Tivemos uma discussão sobre pesquisa participante. Como a academia constrói isso nos estudos latino-americanos? Eu soltei uma polêmica: “A academia não se apropriou disso. Quem se apropriou foram as instituições, o Itaú Social, o CENPEC [Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária], que têm se apropriado disso para produzir informações, para entender como irão mobilizar essas pautas”. Mas já estou divagando aqui… É isso: como se mobiliza essas questões? Quais são os interesses das instituições? Como esses agentes irão recepcionar isso?
[Sharine] Acho que essa discussão sobre política cultural, desse ponto de vista dos movimentos culturais e socais, falta na academia. Eu vejo pouca discussão sobre isso, muito pouco artigo, muito pouco livro. As pessoas contam a história das políticas culturas: ou começam com Getúlio Vargas, em 1930, ou dão ênfase ao governo de Gilberto Gil, que foi importante, mas não é só isso. Antes disso já havia uma movimentação um pouco mais popular, desses grupos.
[Ana Paula] Total, total. No final das contas, essa discussão acaba indo para o pessoal que estuda políticas populares e muitas vezes não cola em uma discussão mais ampla de cultura, do Estado, olhando para essas perspectivas. Acho que Mário de Andrade é um grande precursor. As expedições folclóricas… Sou apaixonada por aquele projeto. É maravilhoso. Mas é muito pontual… O Valmir de Sousa, que era do Polis, tem um artigo sobre as políticas públicas para as periferias na cidade de São Paulo. Ele faz um histórico. O levantamento que ele fez é assim: houve uma ação de carnaval, mas que, de fato, nem existiu dentro da perspectiva do estado. Essas práticas ficaram sempre para o pessoal das culturas populares, os antropólogos. Há essa separação. Acho que essa questão da cultura no sentido antropológico e sociológico é uma pauta importante. A Lei Aldir Blanc trouxe isso. Quando pensamos o que vamos considerar como cultura, isso está patente.
[1] Socióloga, especialista em juventude.
[2] Arquiteto e urbanista, professor titular da USP. Foi vereador na cidade de São Paulo entre 2001 e 2004 e entre 2013 e 2016. Foi Secretário Municipal de Cultura entre 2014 e 2016.
[3] Político brasileiro. Foi governador de São Paulo nos anos 1950 e presidente do Brasil em 1961.
[4] Político brasileiro. Foi governador de São Paulo.
[5] Secretária Adjunta de Cultura do Município de São Paulo desde 2021.
[6] Fernando Haddad. Acadêmico e político brasileiro. Foi prefeito de São Paulo de 2013 a 2017.
[7] Ana Paula refere-se ao campus da Universidade de São Paulo na Zona Leste da cidade.
[8] Entre novembro de 2020 e julho de 2021, período que compreende a data desta entrevista, o Brasil enfrentou a pior fase da pandemia de COVD-19, chegado a registrar milhares de mortes diariamente. No segundo semestre de 2021, os índices passaram a melhorar gradualmente.
[9] Ana Paula refere-se, especialmente, à III Conferência Municipal de Cultura de São Paulo, realizada em 2013, para elaboração do Plano Municipal de Cultura. A I e a II Conferências Municipais de Cultura de São Paulo foram realizadas em 2004 e 2009, respectivamente.
[10] Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo e assessora na Câmara Municipal de São Paulo.
[11] Ana Paula refere-se às eleições municipais que ocorreram em todo o Brasil em outubro de 2020.
[12] Secretário Estadual de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, desde 2019. Foi Ministro da Cultura do Brasil entre 2017 e 2018.
[13] No início de 2021, o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, baseado no mecanismo de renúncia fiscal, passou por mudanças e teve verbas para repasses congeladas, o que provocou forte reação da classe artística.
[14] Criado em 2004 e transformado em Lei em 2014, tem como princípio a política de base comunitária para fortalecimento de ações culturais.
[15] Ana Paula refere-se às eleições municipais de 2020. Foi eleito grande número de vereadores representantes de pautas como as dos movimentos negros, feministas, LGBTQIA+, indígenas, entre outras.
[16] Fundação Nacional de Artes, órgão federal, atualmente vinculado ao Ministério do Turismo.
[17] Presidente do Brasil entre 1995 e 2022.
[18] Ministro da Cultura entre 2003 e 2008. Durante sua gestão foi criado o Programa Cultura Viva, cujo carro-chefe são os Pontos de Cultura.