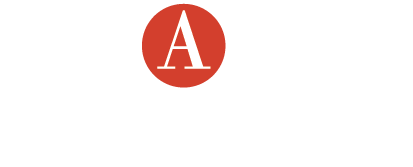Canclini na Cátedra
Entrevista realizada com o Grupo Nós do Morro, por Sharine Melo, pela ferramenta Google Meet, em 23 de março de 2021.
Participantes:
Guti Fraga: fundador do grupo
Ester Moreira: ex-integrante do grupo
Luciana Bezerra: integrante do grupo
Tatiana Delfina: integrante do grupo
[Sharine] Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer por participarem da pesquisa. Meu projeto é sobre a Lei Aldir Blanc. Estou conversando com vários grupos que participaram da articulação da lei e, também, com artistas que foram beneficiados, além de grupos de movimentos sociais, articulação em rede, esse pessoal todo que pressionou o congresso para a criação da Lei. Gostaria de falar com vocês por dois motivos. O primeiro é que vocês foram beneficiados pela Lei Aldir Blanc. O segundo é que vocês têm um histórico de movimento social, de luta por direitos.
[Ester] De pontos de cultura também.
[Sharine] Sim, de pontos de cultura também. Meu colega, o Juan Brizuela, está trabalhando com pontos de cultura, especificamente. Nessa área, os projetos acabam se cruzando. Antes de entrarmos no tema, poderíamos ouvir um pouco da trajetória de vocês, rapidamente, para nos situarmos.
[Guti Fraga] A Tatiana Delfina e a Luciana Bezerra são multiplicadoras do Nós do Morro. Isso faz parte da filosofia de quando foi fundado o Nós do Morro: ter multiplicadores. A vida não é eterna. Então, pessoas que têm fé e acreditam naquela filosofia e naquela ideia… Hoje a Tati é administradora do Nós do Morro. Ela administra e segura a onda todinha. Eu estou há um ano e dois meses confinado em Saquarema [Rio de Janeiro], no meio do mato. A Tati e a Luciana seguram a onda lá. O Paulo também. Mas as duas são as que vão e voltam, que estão na pista mesmo, literalmente. Só para falar do orgulho que eu tenho de plantar multiplicadores. Isso faz parte da filosofia do Nós do Morro. Quando fundei o Nós do Morro, não queria fundar simplesmente um grupo de teatro no Vidigal, mas sim um grupo de teatro com filosofia de vida, pensando no coletivo que chamamos Nós, nas ideias multiplicadoras. Da mesma forma que você tem oportunidade, pode passar oportunidade para as pessoas. E todo o cultural mesmo: respeito hierárquico, essa coisa toda.
A Lu foi administradora do Nós do Morro, depois entrou a Tati. Hoje a Lu coordena a área de cinema e a Tati administra. A Lu administra a área de cinema, mas também contribui em todo lugar que for necessário. Ele é uma “piô” do Nós do Morro. Sinto muito orgulho por essas duas crias, que me fortalecem muito. Vem Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena se a alma não é pequena”.
O Nós do Morro foi fundado em 1986, com o Luiz Paulo, meu querido amigo que ainda é do Nós do Morro, o Fred Pinheiro, que já se foi, e o Fernando Melo, que já se foi. Foram dois amigos que estiveram conosco o tempo inteiro e sempre acreditaram na ideia. A gente vem passando por vários momentos de dificuldade, momentos bons, momentos lindos. Acho que o melhor momento para a gente, como Nós do Morro, foi quando tivemos o primeiro patrocínio, verdadeiramente, da Petrobras, como grupo, não grupo social, mas grupo sociocultural. Foi quando começamos a dar um salto maior, que foi não fazer temporada só no Vidigal. Fizemos a primeira temporada no teatro Laura Alvim, em Ipanema [Rio de Janeiro]. Começamos a sair do estereótipo. Porque fundar um projeto desses é lutar contra o estereótipo. Eu trabalhava com pessoas maravilhosas. Eu trabalhei com Domingos Oliveira e, depois, com Marília Pêra. Com Marília Pêra eu trabalhei por muitos anos. Trabalhei cinco anos com ela. Foi justamente com a Marília Pêra, quando estava em Nova Iorque com ela, uma vez, que deu esse “click” na minha vida. Estive em Nova Iorque e falei: “Meu Deus, em Nova Iorque!”. Eu sempre sonhava em ver a “negada” local, aquela coisa toda. Em Nova Iorque eu vi, realmente, o acesso que as pessoas tinham a tudo, principalmente a artes plásticas, teatro. Em salas pequenininhas, em que cabiam dez pessoas, havia um teatro. Comecei a ver essa possibilidade toda.
[Ester] Não era na Broadway, não é, Guti?
[Guti Fraga] Não! Off, off. Todo mundo ia para a Broadway. Eu só ia para off, off. Eu queria ver a negada local. Foi isso que me estimulou a fundar o Nós do Morro. Vim de lá decidido. Quando entrei no avião, falei com Fred Pinheiro, que era iluminador da Marília e perguntei se ele topava me dar uma força se eu fundasse um projeto de teatro no Vidigal. O Fred falou: “Claro!” O Fred e eu estávamos sem “grana” nenhuma e paramos tudo. Sabe aquela coisa? Você luta a vida toda para ter uma vida bacana, viver através da arte e, de repente, larga tudo e volta à estaca zero: “como é que eu vou viver?” Mas não abri mão disso. Foi assim que começamos. Eu não esqueço. Agradeço aos produtores do elenco da Globo porque eles me chamavam e eu não podia ser contratado. Mas eu falava: “preciso pagar meu aluguel. Preciso de não sei o que”. Eles me chamavam para uma participação. Assim foi vindo, os meninos crescendo, crescendo. De brincadeira, passaram-se 35 anos. São vários divisores de água no Nós do Morro. Cada uma dessas meninas que estão aqui são vários divisores de água. Essas três meninas, porque a Ester também tem uma importância muito grande, sua passagem pelo Nós do Morro foi um porto seguro muito importante. Um momento muito importante da Luciana foi quando fizemos Cidade de Deus [filme de 2002, dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund]. Eu fiz a preparação básica do Cidade de Deus. A Luciana e o Luciano Vidigal foram meus parceiros, os assistentes que saíram pelo Rio de Janeiro inteiro, nas “perifas” todas atrás de não atores, de atores, de pessoas da periferia do Rio de Janeiro inteiro. Ficamos com eles durante três meses. Desses três meses surgiu o elenco de Cidade de Deus, que foi um grande divisor de águas.
O tempo inteiro, durante esse tempo todo, brigamos contra o estereótipo. É sempre o estereótipo: é um grupo de teatro de favela. Não é o aprendizado diário. Fomos criando essa universalidade, com várias coisas, vários instrumentos. Tivemos um momento muito bacana, através da Rosane Svartman. Até mesmo antes de ela fundar o Núcleo de Cinema, quando fizemos parceria com o Chapitô, um projeto lá de Lisboa. Juntamos jovens da Alemanha, França, Portugal, Colômbia. Falávamos sobre estereótipos. Fizemos um filme chamado: Outros olhares, outras vozes. Esses jovens vieram para o Rio, ficaram conosco no Vidigal. Fizemos 70% do filme no Rio e 30% em Lisboa. Um grande divisor de águas também foi o Royal Shakespeare Company, com que fizemos uma parceria cinco estrelas. Fomos para lá. Conhecemos a Cicely Berry, diretora de voz do Royal Shakespeare, que também já faleceu. Uma mulher maravilhosa, um gênio. Teve uma mostra de obras completas de Shakespeare e somente dois países foram convidados a entrar. Um deles foi o Brasil. O Nós do Morro foi representando o país com Two gentlement of verona, Dois Cavalheiros de Verona. Nessa viagem, a Tati estava também. Foi muito importante. Acho que não só isso. Ficar um mês em Stratford, onde a economia da cidade é teatro, não é televisão, não é cinema, é teatro… A Cicely adotou a todos nós como filhos dela. Foi uma coisa muito linda. Aprendemos muitos costumes. Já tínhamos esse critério filosófico, mas lá, então, 7h não são 7h01. Depois fizemos o Barbican também. Foi muito importante. Nunca esqueço. O Zuenir Ventura estava lá. São tantos momentos importantes que aconteceram. A Marília Furacão é uma mulher, uma atriz que é diarista. Ela trabalha como diarista justamente para poder fazer teatro. É pobre mesmo e corre atrás, mas nunca deixou de fazer teatro. Nunca esqueço que, no Barbican, uma vez, ela estava lá. De repente, veio à coxia, chorando: “A dona Clotilde está aí! A dona Clotilde!”. Era sua ex-patroa, que tinha mudado para Nova Iorque, ficou sabendo da peça e foi para Londres nos assistir no Barbican. Tem umas histórias de pirar, de pirar mesmo!
[Sharine] Eu queria mesmo ouvir essas histórias. É isso que dá mais cor, mais sabor aos relatos da pesquisa. Eu queria entender por que, nos anos 1980, vocês foram para o Vidigal. Vocês já tinham alguma relação com o lugar?
[Guti Fraga] Não. Eu sou mato-grossense, goiano. Eu nasci em Mato Grosso, na terra de Vanessa da Matta, em uma cidade chamada Alto Garças. Fui morar em Goiânia. Fui com dez anos para Goiânia. Minha família era muito pobre. Nessa época, era muito bonita a sociedade em relação à educação. Praticamente não existiam escolas particulares. Então, a sociedade se encontrava dentro da escola. Os meus amigos, a maioria, eram ricos. Eu era paupérrimo. Ontem comemos ora-pró-nobis, eu tirei aqui do quintal. Às vezes eu ia de bicicleta, passava por um lugar que era só mato, chorava de medo. Chegava em casa e o almoço era uma farofa de ora-pró-nobis. Olha que loucura. Lembrei disso ontem. Só que meu amigo, por exemplo, o Guilherme, o avô dele foi o primeiro prefeito de Goiânia, a mãe dele era dona da única escola de “socila” que tinha lá, de etiqueta. O Léo é meu amigo, irmão de fé até hoje, mora no Rio, tem a Casa da Feijoada em Ipanema. Eles sempre foram de classe alta e eu era paupérrimo. Nós nunca tivemos diferenças. Essas coisas todas me fortaleceram, seguiram meus intuitos, meus sentimentos, meus ímpetos.
Lá em Goiânia, eu comecei a fazer teatro com um cara doidão chamado Hugo Zorzetti, que se foi também no ano passado. Era um cara maravilhoso. Ele tinha uma kombi, uma rotunda e três refletores. Nós íamos de cidade em cidade, parávamos, acampávamos, dormíamos dentro da kombi mesmo, fazíamos uma cama dentro da kombi. Tentávamos ganhar uma merreca aqui para chegar à próxima cidade. Assim foi minha vida de teatro em Goiânia. Teve festival no Paraná, em Curitiba, e fomos uma vez. Aí fomos ao festival em Ouro Preto. Em Ouro Preto, minha cabeça mudou. O trio era Guilherme, Léo e Nadir de Castro. Nadir de Castro era filha de uma esquerdista doidona. Eu não entendia nada de política. Quando estava lá em Ouro Preto, no Festival de Ouro Preto, a Nadir ligou para mim, falando que havia surgido a oportunidade de ir para Moscou, e perguntou se eu queria ir. Ela arrumou a bolsa e ia para Moscou. Falei: “Cara, é tudo o que eu quero!” Imagina! O berço do teatro. Nós acreditávamos naquilo tudo, naquela história toda. Falei: “Quero!”. Só que, quando voltei para Goiânia, dançou. Rolou uma possibilidade: o irmão dela ia morar na Argentina. Falei: “Eu quero ir”. Mas não tinha como. Minha mãe era pobre, meu pai também. Eles tentaram fazer o que eles não tinham para me ajudar. Eu fui morar na Argentina e foi lindão. Morei primeiro em Córdoba, depois fui morar em Mendonça. Era lindão. Eu fazia medicina de manhã, fazia agronomia à tarde e fazia teatro à noite. Teve o golpe da Isabelita. Voltei para Goiânia, casei-me com a Gal, que era uma parceirona também. Fomos para o Rio, moramos um mês em Copacabana. Mas tinha um amigo meu que falava do Vidigal: “não sei o que, ‘parará’, ‘pereré'”. Alugamos um apartamento no Vidigal, em uns duplex que havia lá. Era uma época maravilhosa. Nesse prédio onde fomos morar, morava todo mundo. A Gal Costa morava no subsolo. Danilo Caymmi. Todo mundo morava por ali. Comecei minha relação com o Vidigal assim.
Fui fazer jornalismo na UFRJ. Me formei em jornalismo em 1980, mas minha vida já era Vidigal. Eu não saía para lugar nenhum. Minha vida toda era Vidigal. Eu só saía para ir ao teatro, para ver a Escola de Teatro Martins Pena. Vivia direto ali no Vidigal. Em 1980, eu me formei em jornalismo. Pensava em um jornalismo diferenciado. Não acreditava no jornalismo de censura, gostava da liberdade de escrever. Fiz uma matéria para o jornal O pasquim, eu e uma amiga chamada Helena Carone, que se formou comigo. Nessa época, já tinha tido uma atitude rebelde: não colei grau até hoje. Queria que, quando chamassem o meu nome, eu saísse falando uma poesia de Drummond: “Precisamos descobrir o Brasil, escondido atrás das florestas, com águas do rio no meio, o Brasil está dormindo…” Eu queria sair falando essa poesia. Não deixaram e eu não colei grau. Fiz a matéria para O Pasquim quando o Papa esteve no Brasil pela primeira vez. No Vidigal, eu já tinha um jornal chamado O Mural. Foi nessa época que conheci o Luiz Paulo. O Paulo me ajudava e escrevia tudo muito bem. Eram murais que tínhamos na comunidade. Fazíamos no carbono e pregávamos nos lugares. No jornal O Pasquim, fizemos uma matéria. O Paulo fez uma matéria muito importante no jornal O Mural, que falava assim: “por que não calçar o caminho para as senhoras lavadeiras com lata d’água na cabeça e calçar para o papa?”.
Eu me lembro até hoje do título da minha matéria para O Pasquim: “O Papa nas Bocas”. Ele passava na frente de duas bocas para chegar à capela. O Vidigal ficou acordado a noite toda, esperando o Papa. “Enchemos a cara” no Bar do Celeste. Viramos a noite lá e fomos esperar o Papa às 7h da manhã. Chegou o Papa pela primeira vez. O Papa usava Landau. Veio o Papa, eu me lembro: “Lá vem ele no seu Landau”. A matéria começava assim. Quando o Papa chegou, o Vidigal inteiro se emocionou. Nós voltamos ao Celeste, ao barraco, para tomar a “saideira”. Quando estava tomando a saideira, eu me lembro de que olhei e vi um carro parado. Falei: “Celeste, me dá a saideira”. Quando falei assim, veio um cara, bateu no meu ombro. Eu olhei e ele falou assim: “Isso aqui é para você, jornalista”. Me deu um soco. Quando ele foi pegar o revólver, eu saí correndo. Havia uma escada. Eu fiquei umas quatro horas escondido atrás de uma caixa d’água, até eles desistirem. Falei: “Não quero escrever mais nada na minha vida. Só quero continuar com o teatro”. Assim foi com o teatro. Comecei a trabalhar com o Domingos Oliveira. Ele me apresentou a Marília Pêra. Fiquei Rio-São Paulo. São Paulo-Rio entrou na minha vida. O Brasil inteiro entrou na minha vida. Fui parar em Nova Iorque e aconteceu essa “chave” que falei para você. Está contado.
[Sharine] Então vocês não tinham patrocínio. O primeiro patrocínio foi com a Petrobras.
[Guti Fraga] O primeiro patrocínio veio com a Petrobras. Quando foi?
[Luciana] Em 2001.
[Sharine] Antes disso, como vocês se sustentavam?
[Luciana] Você perguntou como vivia o Nós do Morro. Não tenho a mínima ideia. Vivia porque o Guti é essa pessoa que você está ouvindo. Acho que foi muito imbuído de uma coisa que ele “botou” na cabeça e foi. É também uma criatura que consegue juntar pessoas. Eu tive a possibilidade, em 2010, de escrever um livro que se chama: Meu destino é o Nós do Morro. Foi uma provocação que a Heloísa Buarque de Holanda fez para vários jovens, que naquele momento já eram adultos, mas tinham sido jovens provenientes de grupos sociais: Nós do Morro, CUFA [Central Única de Favelas]… O Marcus Faustini também fez um trabalho nessa edição. É um trabalho memorável, que eu adoro. Chama-se Guia Afetivo da Periferia [Editora Aeroplano, 2009]. Ela fez uma provocação e perguntou: “Quem é esse jovem?” “Que tipo de jovem procura o Nós do Morro?” “Que tipo de jovem fica no Nós do Morro em especial?” “Quem são esses que estão se tornando artistas?” Eu investigava a mim e a meus amigos, tentando responder. Mas o que mais tenho de respostas é que não tinha a ver só com esse jovem. Tinha a ver também com quem angariava esses jovens. Eu digo em um agradecimento aos meus mestres do Nós do Morro o quanto o Guti é, realmente, um pescador de homens, de almas, de pessoas que ele percebe que possam dividir esse sonho. Isso foi muito especial dentro da sua trajetória. Um açoitador de sonhos. Quer dizer, o tempo inteiro, a partir do momento que você se torna um colaborador dessa figura ou um integrante do Nós do Morro, você também é impulsionado loucamente a acreditar nas coisas que você bota na cabeça, a acreditar que é possível. Acho que, por trás de toda ideia, o que o teatro mais nos ensinou e mais nos emprestou foi muito no âmbito de vida. Ensinou a nós, como crianças. Primeiro, fui uma plateia Nós do Morro, em 1987, quando o grupo surgiu, quando trouxe à zona seu primeiro espetáculo, que se chama Encontros, um espetáculo que revisitamos há dois anos. Foi um espetáculo de extrema importância para uma geração inteira que viva no Vidigal naquele momento. Aquele grupo trabalhava em silêncio dentro do teatro há mais ou menos um ano, até que surgiu o espetáculo. Para nós, mudou tudo. Nunca tínhamos ido ao teatro e, de repente, havia um teatro que mostrava a vida da sua comunidade com uma visão crítica: isso é teatro, não é simplesmente uma reprodução da vida.
[Tatiana] Conseguíamos nos identificar dentro dele.
[Luciana] Nós nos víamos, nos reconhecíamos nele. Eu via, eu reconhecia a Dona Maria. Eu já ajudei minha amiga a fugir do colégio à noite. Ela estava namorando e fui lá avisar: “Sua mãe veio te buscar, corre, pula o muro, vai por trás. Vamos falar para ela que você já foi”. Eram situações que aquela geração estava vivendo, presenciando no palco. Isso foi muito importante. Foi empoderador. A partir daí, acho que começa no Vidigal uma semente muito forte. Mas quem está lá? Os obstinados. Você pergunta: quantos anos viveram sem patrocínio? Foram muitos anos. Em 1998, o Nós do Morro fez seu primeiro ensaio de patrocínio. Veio uma pequena verba para que apresentássemos um repertório. Olha bem: veio uma pequena verba para um grupo que já tinha um repertório para apresentar. A prefeitura deu uma pequena verba para que levássemos o repertório ao Lauro Alvim. O Guti contou isso para você, já falou sobre isso como um divisor de águas. Nós levamos ao Lauro Alvim o espetáculo Machadiando, que já era premiado, sem nenhuma verba. Levamos o Abalou, que já era premiado. Tinha ficado dois anos e meio em cartaz dentro do Vidigal, trazendo pessoas de fora do Vidigal. Isso também é uma força muito grande dos territórios culturais. O Nós do Morro alcançou isso para o Vidigal, essa liberdade do território cultural. Eu não posso ir à favela, tenho medo de ir à favela, mas ao Nós do Morro eu posso ir. É liberado. Assim como depois veio a CUFA, veio o Afroreggae, veio a Temporada de Curtas, as maravilhas que o território da cultura criou em muitos lugares, os oásis da cultura.
A situação não mudou muito em comparação com o que o Guti descrevia no jornal O Mural quando ele dizia “o Papa nas bocas”. Eu moro no Beco do Papa. Faço o trajeto da rampa até a capela do Papa, que existe até hoje, é histórica, está lá. Já quiseram derrubar, já quiseram transformar em pouso, em posto policial, em tudo… Mas, sem o olhar católico, só com o olhar histórico, eu acho que ela precisa permanecer ali porque também faz parte. A vinda do Papa para o Vidigal foi muito mais do que só uma vinda do Papa. Ela é o selo de permanência da favela, que brigava há anos com uma remoção. Existia uma articulação política, uma articulação também da pastoral de favelas. Então, é um marco. Mas, até hoje, passamos por duas bocas, igualzinho o Papa passou. Há um filme que eu adoro, que se chama Duas vezes mulher [1986]. É de uma cineasta chamada Eunice Gutman. Eu descobri esse filme agora. É um filme de 1986, que se passa no Vidigal. São duas mulheres vidigalenses, que falam sobre a construção do Vidigal. O Papa já havia vindo aqui há cinco anos. Mas elas falam basicamente da construção de uma pequena pavimentação em um trecho de escada e beco que era barro puro. Era um barro vermelho. O Vidigal tem uns trechos de barro vermelho. Quando chove não tem como subir, não tem como descer. As pessoas subiam na corda. Isso em 1985. Todo mundo já usava jeans, já havia telefone, já havia computador. Já havia computador no mundo! Isso não mudou muito. As mudanças urbanísticas, as mudanças sociais, todas essas coisas, são muito lentas. Então, o que sobra? Sobra a arte, sobra o sonho, sobra você projetar o tempo inteiro um futuro. Não é projetar no sentido de ficar parado e falar: “o futuro…”. Não, é no sentido do fazer. Eu acho que vou chegar a um ponto muito Nós do Morro, que é um bem e um mal, como instituição. Às vezes, esperamos pouco para fazer coisas. Isso nos mete em encrencas financeiras. Quando você tem tempo, você pode planejar, você pode captar um projeto por dez anos, segurando seu valor. Nós não temos tempo, nós tempos urgência sempre, sempre. O Nós do Morro nasceu da urgência do Guti de ver que ao redor existia a Off-Off-Broadway, mas nada estava acontecendo. A partir daí, nasceu um pouco em nós também esse sentido da arte de urgência, da arte de necessidade. Às vezes essa arte se atropela também. Acho que, por isso, foi tanto tempo, de 1986 a 1989 sem ver uma “grana”. Em 1995, já construindo um teatro.
[Ester] Construindo um teatro sem “grana”…
[Luciana] Quando o poder público chegou à favela, o Vidigal já tinha um teatro. Foi feito pelo Nós do Morro. É mantido pelo Nós do Morro, embora tenha 35 anos de trabalho de cultura e educação dentro deste território. Ainda assim, não veio o prefeito, não veio o governador, não veio ninguém nos dar o teatro, nem mesmo dizer: “Vamos dar um ‘upgrade’ neste e vamos fazer vocês terem um ‘puta’ teatro”. Você percebe também que o terreno é bem árido. Ninguém está a fim de regar aqui. Somos muito rentáveis para o tipo de governo que temos, o tipo de engrenagem, sendo bem anti-imperialista. Para quê? Vou fazer essas pessoas atravessarem os muros intelectualmente para quê?
[Sharine] Vocês poderiam falar um pouco da relação do Nós do Morro com a história dos movimentos sociais e artísticos no Brasil, como o movimento negro, os movimentos das periferias? Esses movimentos acabaram impulsionando a Lei Aldir Blanc. Foram os que mais participaram da articulação para a Lei.
[Ester] Vou contextualizar, Sharine, para que você entenda como essas relações começaram. Acho que uma primeira ponte de relação veio pelo Guti, que circulava e continua circulando por esses off, off do Rio de Janeiro. De uma maneira geral, por tudo que recolhi no tempo em que estive no Nós do Morro, pelo menos no Rio de Janeiro, o Nós do Morro é praticamente o primeiro grupo a se formar com essas características. Por muito tempo ele foi único, mesmo que tenham surgido outros grupos. O que lhe dá essa característica única? O fato de ser um movimento de periferia. É um grupo artístico que se forma numa comunidade que é considerada periférica, ainda que fique no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas, vamos dizer que por uma questão social, é considerada periférica. O grupo foi fundado e forma as pessoas da sua comunidade. Depois sugem outros grupos, muito inspirados na experiência do Nós do Morro, mas muitas vezes constituídos por pessoas externas às comunidades, que vão para essas comunidades com algum tipo de trabalho que acham que seja importante. Vou dar um exemplo… A Eliana Souza e Silva e seu marido, Jailson, são da comunidade da Maré, foram estudar na UFRJ [Universidade Federal do Rio de Janeiro], tornaram-se intelectuais e fundaram um projeto dentro da sua comunidade, que começou como Observatório das Favelas e, depois ganhou uma dimensão maior, com vários projetos dentro de outros projetos. O projeto de dança foi levado para lá por um grupo de bailarinos da Zona Sul do Rio de Janeiro, em parceria com o Jailson, a Eliana. É um exemplo. Mas há vários outros exemplos de projetos artísticos, sociais e socioculturais que vão para as comunidades como uma ação de fora para dentro. Eu acho que a principal característica que distingue o Nós do Morro desde o seu nascimento, é que ele é fundado e formado e até hoje é da comunidade, é feito por pessoas da comunidade.
O objetivo é dar acesso à arte para a comunidade, com qualidade, como diz o Guti. O outro aspecto sobre o qual o Guti pode falar é: do início a meados no anos 1990, quando já não havia o governo militar, começou a redemocratização, a sociedade começou a se reorganizar, porque, até então a sociedade civil era totalmente abafada, não podia haver grupo de mais de 3, 4, 5 ou 6 pessoas andando nas ruas porque iam presos. Com a redemocratização, a sociedade civil começou a se reorganizar e começaram a surgir as famosas Ongs [Organizações não Governamentais]. No Brasil, o processo foi bastante lento. Mas começam esses movimentos sociais e de luta de categoria. Eles começaram a surgir nesse momento. Acho que a ponte é o Guti porque ele acabou tendo relação com essas pessoas. Como ele é “o” Nós do Morro, o fundador e a imagem do Nós do Morro, acaba tendo esse vínculo. Depois, há essa geração que começa e cresce dentro do Nós do Morro e vai ampliando esses vínculos com outros grupos, com outros processos, com outros projetos, que vão se misturando dentro do Nós do Morro. O Nós do Morro vai estabelecendo essa relação e participando, de alguma forma, de projetos maiores, encontrando-se com esses outros ativistas, digamos assim, da arte, da cultura e da sociedade. Conseguimos entender por que o ponto de cultura é uma dessas janelas. O ponto de cultura era do audiovisual e a Luciana sempre foi uma liderança dentro do Nós do Morro. Ela acabou indo bastante para essa área, sendo diretora, roteirista e sempre líder, professora, multiplicadora. Participou muito de todas as atividades que foram propostas pelo Ministério da Cultura desde o início: os encontros, as teias, todos os processos que foram gerados enquanto os pontos de cultura foram ativados por meio do Ministério da Cultura.
[Sharine] Falem um pouco sobre o ponto de cultura e, depois, sobre o que foi a Lei Aldir Blanc para vocês, como ajudou na sobrevivência.
[Guti Fraga] O ponto de cultura, para mim, foi uma das maiores revoluções que aconteceram, independentemente do partido, do governo. Foi um olhar para o Brasil de ponta a ponta. Não foram privilegiados do Rio de Janeiro, da favela, de São Paulo, da “perifa”… Não, foi o Brasil inteiro. Abriu-se uma oportunidade globalizada dentro do Brasil através dos pontos de cultura. Tenho muito orgulho de ver o quanto todo mundo tem o direito e a necessidade desse acesso. Acho que o ponto de cultura foi um olhar com a lente buscando em toda parte do Brasil. Quando estava na Funarte[1] e viajava, o que mais me encantava era ver a qualidade artística e cultural nos lugares. A qualidade no Amazonas é tão grande quanto a de São Paulo ou a do Rio. Nós nos fechamos no local. Acho que o ponto de cultura abriu tudo isso. A Lei Aldir Blanc, para mim, foi o respirar de uma possibilidade dentro do nada. O momento que estamos vivendo é tão difícil na vida. Como resistir nas pequenas coisas? Como resistir? A Tatiana, mais do que ninguém sabe sobre isso. Ela é que está comendo o pão que o diabo amassou dentro do Nós do Morro. Mas eu acho que veio para dar uma pequena possibilidade de respiro. Não posso negar o quanto isso tem sido importante para tantos projetos. É um respirar, pequeninho, mas já vale a pena: “Tudo vale a pena se a alma não é pequena”.
[Sharine] Vocês podem falar um pouquinho sobre a Lei Aldir Blanc, sobre como foi o processo? Vocês participaram da articulação da Lei ou ficaram sabendo do edital e se inscreveram? Como foi?
[Tatiana] Na verdade, participamos mais a partir do edital. Começamos a articulação a partir do edital. Foi isso que o Guti falou: o respirar que deu para o grupo. E a possibilidade de conseguirmos voltar, como movimento artístico, para dentro da casa. Claro, não com a intensidade que fazíamos porque a pandemia está aí. Então, não conseguimos a mesma intensidade com a quantidade de gente que tínhamos aqui dentro. Mas já conseguimos começar a colocar a casa em ordem. O Nós do Morro tem um projeto, um programa chamado Vidigal Show. É um programa de auditório aberto para todos os artistas que não tenham espaço e queriam apresentar sua arte. É um programa de auditório que acontece ao vivo. É tipo o programa do Chacrinha, que acontece em uma praça, ao vivo, em uma noite de quarta-feira. Com essa história da pandemia, não conseguimos fazer ao vivo. Estamos colocando o Vidigal Show dentro da telinha. Nós filmamos. A vantagem disso é conseguir dar o acesso para mais gente e outras pessoas de outras cidades, outros estados conseguirem ver os artistas também. O espaço que estamos conseguindo está ampliando muito. Há a possibilidade de multiplicarmos a metodologia. Tudo isso veio com o acesso da Aldir Blanc. Fomos obrigados a nos repensar, com a dificuldade, com a barreira imposta pela pandemia. O auxílio nos ajudou a repensar como fazer e a aplicar isso.
[Sharine] E quais foram as dificuldades e facilidades que vocês sentiram para acessar a lei?
[Tatiana] As dificuldades: realmente, a clareza da lei, a plataforma, algumas diretrizes que algumas vezes mudaram. Mas fomos nos ajustando e fazendo. Tivemos os prazos. Ainda estamos no meio da pandemia. Há um prazo e, por exemplo, agora estamos no meio de sua execução. Nossa edição começou um pouco mais tarde. O Rio de Janeiro, por conta da nova cepa do coronavírus, teve que fechar tudo. O nosso cronograma de execução foi suspenso porque não há como fazer nada dentro da casa com esse fechamento para preservar vidas. É esse aprendizado dessa pandemia diariamente.
[Ester] Como vocês acessaram a lei? Vocês fizeram projeto? Como foi?
[Tatiana] Fizemos um projeto via plataforma da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Na realidade, eles abriram quatro editais. Nós até pensamos em fazer o projeto para outros editais. Mas não podíamos nos inscrever em nenhum outro, somente como ponto de cultura. Então, ficamos limitados ao ponto e fizemos esse projeto via edital. Foram quatro etapas. Outra dificuldade foi a aprovação e o tempo de resposta aos selecionados. Mandamos documentos e demorou até a verba ser liberada na conta bancária. Aqui no Rio tivemos muita dificuldade de acesso a uma rede bancária em que o Estado tem conta. A rede bancária não estava apta para atender a esse volume de abertura de contas.
Nós também ganhamos, pela Prefeitura do Rio, outro edital da Lei Aldir Blanc para desenvolvermos a manutenção da biblioteca. O Vidigal é muito úmido. O Nós do Morro ficou esse tempo todo sem patrocínio. Há algumas coisas que precisamos manter. Nossa biblioteca estava sem condições de uso não somente por questões da COVID-19, mas também por questões de estrutura. Ganhamos a Aldir Blanc para fazer a manutenção predial: tirar a umidade porque a biblioteca é um espaço muito úmido. Desenvolvemos leituras na biblioteca. Estão terminando de fazer a impermeabilização da biblioteca inteira para acabar com essa umidade. Na próxima semana, lançaremos três leituras dramatizadas online. Ficou muito legal a mistura da linguagem teatral com audiovisual. Como se faz teatro sem plateia? É uma leitura dramatizada online, que está com uma pegada audiovisual também. Nós trabalhamos com crianças e com duas turmas de adultos. Queríamos trabalhar o texto de teatros que tivessem sido montados por companhias de periferias ou que fossem autorais e pudéssemos fazer intervenções. O texto que escolhemos foi Eles não usam tênis Nike, da Cia Marginal, da Maré. No outro, usávamos nosso repertório para termos uma pegada infantil. Fizemos o É proibido brincar, em que há uma mistura de câmera com celular, pegando aqueles gifts de history para fazer “nave”, para ficar com uma linguagem um pouco diferente. Queríamos pegar o outro texto de um jovem autor. Pegamos Modus operandi, de um rapaz chamado Fabrício Bianco.
Estamos fazendo esse produto cultural, que deveria ter duas edições presenciais e duas online. Como a pandemia foi se agravando, tivemos a liberação para fazer as quatro online. Na realidade, é o presencial, porque não vai acontecer online ao vivo. É um online gravado. Vamos gravar o show todo e disponibilizar nas redes.
[Sharine] O que muda, qual a diferença entre apresentar algo ao vivo, no teatro e apresentar para internet? Não é nem para TV, nem para cinema, é para internet.
[Tatiana] Muda muito… Imagina! Esses shows que estamos fazendo são feitos na pracinha do Vidigal, às 7h30 da noite. As pessoas estão chegando, estão descendo do ônibus na beira da Avenida Niemeyer. Imagina! Passa uma criança no meio, toda hora dá interferência. O Guti está sempre fazendo umas brincadeiras, solta umas chamadas de atenção educativas. Volta e meia ele fala dentro do Campinho Show: “Estudar é bom, mas ler é melhor ainda”. Há umas coisas de gentileza: “por favor”, “obrigada”, não jogar papel no chão: “meu filho, lixo é no lixo!”. Há essas interferências da própria praça. Não é no teatro, o Vidigal Show é feito na praça. Ele é bem aberto, mesmo. Quando você bota isso dentro da casa e em uma linguagem audiovisual… Estamos fazendo muitos ensaios e tentando criar umas brincadeiras para dar essa dinâmica que tínhamos na praça. Já piramos um pouquinho antes. Agora estamos vendo rodar… No início deu mesmo essa ansiedade, esse medo de como transformar esse programa em online. Não é o mesmo Campinho Show da praça. Claro que não é. Não temos as interferências, essas coisas todas.
[Ester] Falta o público.
[Sharine] É um online gravado, que é diferente de um online ao vivo.
[Tatiana] Sim. Essa é outra dificuldade. Queríamos fazer ao vivo. Só que, além de precisar da placa streaming, que é um custo para conseguir fazer com qualidade, o Vidigal tem um sério problema de internet. Então, não quisemos arriscar o online ao vivo, como fazemos em lives, como fazemos no Zoom, porque “pixela”, porque cai… Para fazer isso, eu realmente precisaria dessa placa. Tentamos levar para o online. Fazer a leitura dramatizada é muito estranho. Você está gravando a peça. Quando passa para a edição, há praticamente um segundo diretor, que se junta à visão teatral e vem com o olhar do editor, o código da edição. É muito engraçado. Eu estava na filmagem, observava a filmagem em sua sequência. Tinha ali uma peça de teatro como conhecemos. Quando ela passou para o audiovisual, pensei: “Perdeu aquilo”… Mas não dá para ter tudo no audiovisual. “Perdeu a explosão da bola!”. Não precisa ter a explosão da bomba no audiovisual. O barulho já remete. É muito engraçado. É importante ter o texto, marcar alguma coisa teatral. Há umas “sujeiras” propositais na leitura para ter essa pegada um pouco mais com cara teatral e menos audiovisual. Mas não adianta: é audiovisual. Aí dizemos que não é teatro. Eu, pelo menos, penso assim: não é teatro porque teatro tem plateia, teatro tem o olho no olho. Ainda mais por essa telinha em que estamos. Falamos: “É arte, mas ainda não sei se é teatro”. É arte.
Essa é uma coisa que aprendemos com essa loucura toda que estamos vivendo no mundo. Estamos aprendendo coisas, descobrindo coisas. Estamos sendo obrigados a nos reinventar, muito no susto. E vamos ver o que acontece a partir daí, que caminho a arte vai tomar. Mas, para os atores, para os artistas, está sendo muito bom. Eles têm falado muito isso: “Pude sair um pouco de casa”, “pude fazer o que gosto”, “agora estou desanuviando a cabeça”, “está me dando vontade de novo de fazer coisas”. Para eles, está havendo essa mexida interna porque estava uma coisa meio estagnada. Estávamos trabalhando com quatro ou cinco atores, que estavam na troca do ensaio. Por mais que houvesse um distanciamento, estavam naquele mesmo espaço criando. Mexeu com a autoestima, com o psicológico, deu uma “virada de chave bem boa” também. Isso a Aldir Blanc trouxe: a parte da estrutura para a casa, mas também para nossos integrantes a possibilidade de um respiro, de poder se sentir vivo e atuante dentro do que eles gostam de fazer.
[Sharine] E o que você acha que permanece dessa experiência, para terminarmos?
[Tatiana] Uau! Ainda não consigo definir o que fica. Ainda estamos muito no meio da experiência. Ainda estamos vivendo muito a pandemia. Mas essa capacidade que temos de descobrir o novo, de nos juntarmos, sabe? Se cada um olhar um pouco a arte, o outro e como conseguimos, juntos, transpor barreiras e crescer, eu acho que é uma coisa que fica. Aqui tivemos muito essa sensação da coletividade, do “o que eu faço interfere no outro”. “Como posso interferir positivamente?” Essa coisa de pensarmos em estar sempre melhorando o outro é um pouco do que fica para mim hoje. É necessário, sim, que o Estado encare a cultura como essa possibilidade de geração de trabalho e renda. Todo mundo fala do empresariado, fala dos outros setores da economia, mas as pessoas só lembram da cultura a partir do entretenimento. O entretenimento é, sim, importante. A cultura ajuda o ser humano a evoluir. Mas a cultura também gera muito emprego, trabalho e renda. Quando foi a primeira a parar, a economia teve esse baque, o índice de pobreza aumentou muito. Ninguém se dá conta da quantidade de trabalhadores na área da economia criativa. Temos costureira, temos eletricista. E não se dão conta desse grande mercado que é a economia criativa e da falta de valorização que ela tem. Talvez agora o pessoal comece a olhar um pouquinho mais, a encarar a cultura também por esse outro lado. Não só como entretenimento.
[Sharine] Espero que continuem por muitos anos.
[Tatiana] O local é bonito, mas com pouca gente, a casa não fica bacana. Ela não pulsa. O bacana desta casa é quando ela pulsa, com energia, as trocas, a criatividade, as crianças, os adultos, todo mundo. Eu acho tristinha a casa vazia.
[Sharine] Qualquer teatro, qualquer casa vazia é triste. Mas logo acaba a pandemia! Muito obrigada!
[1] Guti Fraga foi Presidente da Funarte entre 2013 e 2015.