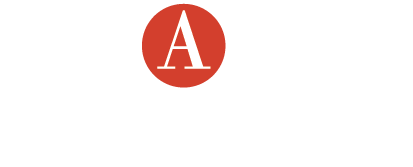Canclini na Cátedra
Entrevista realizada com Marcelo Ferreira, por Sharine Melo, pela ferramenta Zoom, em 7 de dezembro de 2020.
[Sharine] A primeira coisa que gostaria de saber é se você poderia contar histórias sobre os profissionais da cultura, os artistas que se engajam politicamente nesses movimentos por políticas culturais, por mais financiamento, por fomento para os artistas, principalmente no setor público. Você poderia contribuir principalmente sobre a lei Aldir Blanc.
[Marcelo Ferreira] O Brasil tem, desde 2004, com o Ministro Gilberto Gil, a mobilização para construção do Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura é um dispositivo da Constituição Federal, se não me engano no Artigo 216. Existe, no Brasil, a construção de diversos movimentos sociais ligados a conselhos estaduais, a conselhos municipais, a movimentos que atuam não diretamente em conselhos, mas em incidência de políticas públicas. Um desses movimentos, que tem muita força, é o movimento dos pontos de cultura. Há o movimento do Fora do Eixo, você vai ter movimento do Teatro, o movimento do Patrimônio Imaterial, Material… enfim, diversos movimentos. Na questão da Aldir Blanc, foi precisamente assim: aconteceram dois movimentos, muito grandes, que desencadearam o que chamamos de Articulação Nacional de Emergência Cultural. São dois movimentos culminantes, concomitantes. Um movimento é provocado, mobilizado pelo Mídia Ninja, pelo Fora do Eixo, pelo Pablo Capilé, que chamamos, em um primeiro momento, de Teia Cultural e, depois, de Ministério Popular da Cultura. Ali, reunimos articuladores, secretários estaduais da cultura, assessores parlamentares, de diversos partidos do campo progressista. Começamos a nos reunir semanalmente para ver o que poderíamos fazer frente à pandemia. De outro lado, surge o Célio Turino. Ele criou um termo, “renda básica” ou “renda emergencial”, e montou um grupo que, em um primeiro momento, se chamava “Arte é Vida. Depois, mudamos o nome para “Convergência cultural”. Este era um grupo de conceituação, formulação, elaboração de política pública. Então, de um lado, nós tínhamos um grupo de mobilização, articulação, agitação; e, do outro, um grupo de formulação, conceituação e busca por uma legislação nacional. Desses dois grupos, em que eu atuava, surgiu uma terceira ação, que chamamos, em um primeiro momento, de Lei de Emergência Cultural. Qual era o contexto? Diversas iniciativas, em projetos de lei, estavam no Congresso Nacional, procurando amparar o setor: o PL 1.089/2020 e o PL 1.075/2020. Eu, o Alexandre Santini, o Célio Turino, o Mídia Ninja e outras pessoas tínhamos feito, de 2011 a 2014, a mobilização da Lei Cultura Viva. Então, eu, o Célio, o Alexandre, o Mídia Ninja e a própria Jandira Feghali tínhamos trabalhado juntos para aprovar a Lei Cultura Viva. Ela começa a ser articulada em 2011 e é aprovada em 2014. Nós já tínhamos uma trajetória de trabalho comum. O que aconteceu? A partir desses dois grupos – esse grupo de formação, que era o “Convergência”, e esse grupo de articulação e mobilização, que era o “Ministério Popular da Cultura” -, eu e o Alexandre Santini montamos um entendimento de que era preciso ter apenas um nome, como tinha a Lei Cultura Viva. Precisávamos unificar o nome, para que as pessoas não ficassem batalhando por uma lei 1.089, 1.071… Compreendiamos que, nesse movimento, nosso projeto era unificado. Então, conversando com esses dois grupos, eu e o Santini tomamos a iniciativa de montar as três primeiras webconferência. Uma delas, geral e irrestrita, foi realizada quando lançamos essa unificação, a Lei de Emergência Cultural. A partir dessa webconferência, começamos a atuar, com esse grupo de técnicos, de formadores, formulando mesmo o texto, do qual a Jandira foi relatora. Começamos a formar a base de mobilização da lei. Fizemos uma webconferência geral e, depois, uma com conselhos e uma com gestores. Compreendemos que precisávamos mobilizar, sensibilizar, tanto gestores quanto o ativismo. O que aconteceu? Criou-se uma condição, por diversos motivos: um deles é a própria virtualização das pessoas… O movimento cultural estava vindo de uma série de derrotas. Nesse primeiro mês da pandemia, foram muitos movimentos locais, municipais, estaduais, resolvendo questões emergenciais, resolvendo cesta básica. No começo de maio começou a articulação pela Lei Aldir Blanc. A primeira conferência foi no dia 03 de abril.
A partir dessas webconferências, quase se instala uma democracia direta na construção da lei. A deputada Jandira começa a participar das webconferências, tanto com os gestores quanto com os conselhos, começa a participar de webconferências temáticas estaduais. É possível ver essa sequência no Instagram da Lei de Emergência Cultural. Essa política começa a ser articulada. Jandira Feghali faz de três a quatro relatórios. Ela vai mudando os relatórios de acordo com sua participação nesses processos. Também estou escrevendo sobre esse processo. Tem um fato interessante: até a webconferência dos gestores, se não me engano, a webconferência que acontece no dia 17 ou 18, a lei era destinada a cidades com mais de 50 mil habitantes. Foi numa webconferência que, escutando a demanda, ela mudou, fazendo um relatório para uma lei irrestrita, em que qualquer município pode se inscrever. É por adesão. Criou-se um ambiente, por causa da visualização e do tempo disponível das pessoas, que permitiu a construção de uma lei com participação popular plena. Tem um outro caso interessante: a Jandira participou de uma webconferência no Pará e colocou a questão da cultura alimentar no Artigo 8. Ela teve essa demanda no Pará. Isso ela fez com os gaúchos, que queriam colocar os CTGs [Centros de Tradição Gaúcha] na lei: “não, vamos entrar num acordo”. Ela colocou “Centro de tradição regional”. Foram 15 dias de uma experiência incrível, de democracia plena na construção de um projeto de lei. Nós, da Articulação Regional, criamos um canal do YouTube, criamos um Instagram, e começamos a produzir conteúdos didáticos, diários, em diversos grupos. Nós compreendíamos que era importante ter esse papel: pedagogicamente, quanto mais apropriadas da lei as pessoas estivessem, mais teriam capacidade de se mobilizar. Tivemos uma vitória consagradora. Fizemos mapa dos votos, plantão dos votos, organizamos votação por estado, criamos diversos sistemas e listas para pressionar os deputados, a deputada Jandira fez um movimento junto aos fóruns de gestores… Outra coisa importante para entender esse processo: existe a articulação nacional e movimentos como o Artigo Quinto, o Ataque, movimentos regionais também, mas com a articulação nacional fazendo esse processo pedagógico; há o Fórum de Gestores e Dirigentes Estaduais, que é um outro movimento de gestores; e uma coisa que talvez nunca tenha existido na cultura, que foi o trabalho conjunto das entidades municipalistas.
Essa sinergia permitia que houvesse uma construção permanente. Era uma construção permanente, diária, tanto de absorção do conteúdo e do método do projeto, quanto da necessidade de mobilização. Então, as entidades municipalistas se mobilizaram, o movimento de baixo para cima se mobilizou via deputados federais, a Jandira fez uma articulação junto a todos os projetos de lei… Foram quatro projetos de lei que se juntaram ao PL 1.075. Ela também fez um trabalho no congresso, de convencimento, de amplitude do voto. Os secretários estaduais também fizeram um trabalho junto aos governadores e aos deputados federais. Quer dizer, criou-se uma forma de se chegar ao congresso, que, de todos os lados, tinha mobilização. Isso consagrou uma votação absoluta no Congresso Nacional, mesmo com o Partido Novo. A Jandira negociou vários pontos com o Novo, que votou contra. O projeto foi para o Senado e, fizemos a mesma mobilização. O Senado votou 100% a favor da lei.
A proposta da Lei começou com R$ 870 milhões. Depois de uns 10 dias que os recursos chegaram a três bilhões. Havia a ideia de que parte da distribuição dos recursos seria feita através de cadastros nacionais dos espaços e parte seria feita por descentralização. Depois, foi decidido que seria tudo descentralizado. Quando entendemos que os recursos seriam descentralizados, começamos, junto a Santini, Célio e Lilian, a pensar na Escola de Políticas Culturais. Entendíamos que, se há um processo de descentralização, precisa haver um processo de apropriação rápida…
[Sharine] Por parte dos gestores…
[Marcelo Ferreira] Porque foi descentralizada. Há um nível de estrutura de gestão muito diferente, e a lei traz várias inovações na sua construção. O curso foi um sucesso absoluto. Acho que hoje deve estar com mais de 200 mil visualizações. Ele começou a desencadear um processo de autoformação. Então, o Itaú fez um curso, o SESC-Rio fez um curso, outros movimentos começam a produzir cursos, a secretaria começou a produzir curso. Houve uma onda pedagógica antes mesmo de o processo, de a lei, chegar. O Célio tem uma frase muito interessante, que diz assim: “eu falei que não ia dar certo, eu falei que tem tanto curso, tanta oficina, que é difícil entender”. Na verdade, é o contrário, toda lei, toda legislação deveria ser seguida de um processo de “manual”, “modo de usar”. Foram muitas cartilhas, muitos manuais e uma explosão de vitórias. A Lei Aldir Blanc é uma vitória. Foi criado um tempo disponível porque estava todo mundo dentre de casa. Foi a vitória de um processo popular de construção porque foi de baixo para cima. Foram milhares de grupos municipais, de grupos estaduais, de articulações, de reuniões… E começou a descentralização da lei. A articulação nacional manteve duas linhas. Uma delas foi a criação do Observatório da Emergência Cultural, uma tentativa de reforçar um conceito de participação social que não fosse só um conselho, porque os municípios não iriam conseguir montar conselhos. Houve a ideia de se montar um comitê ou um grupo de trabalho. A partir disso, o observatório fez o papel de incentivar o conceito de comitê, de apoiar essa ideia de que a sociedade civil tem que participar, tem que ter um trabalho conjunto, tanto na ação educativa, quanto na escolha dos critérios. Mas eles também não têm força, não têm gente, não têm capacidade de atender a uma demanda tão grande. A segunda linha de atuação foi a escola, que mantivemos para beneficiar diálogos nacionais temáticos e produzir os conteúdos. Há o tema, o conteúdo da lei, e o Observatório difunde o conceito de participação social e de outros mecanismos. No Brasil, temos usado muito pouco, na Cultura, o conceito de comitê gestor ou comitê de fiscalização e acompanhamento. Esse instrumento foi muito difundido na Lei Aldir Blanc. Acho que, em resumo, é isso. Depois, há outra parte, que é como a lei vai se municipalizando… Mas eu falo muito de ativação nacional porque atingiu um canal… Não conheço outra lei que montou um canal do YouTube, com 14 mil pessoas, criou uma comunidade no Instagram, de 20 mil pessoas. Quer dizer, foi criada uma comunidade em torno de uma lei, uma comunidade de conhecimento, uma comunidade sobre um tema, que é a lei.
[Sharine] Que foi, de fato, uma motivação popular, pelo que você está dizendo. Foi um anseio da sociedade, da própria classe artística.
[Marcelo Ferreira] Isso. Eram 4 ou 5 pessoas, mais a Mídia Ninja, que mantêm o canal do YouTube e o Instagram. Por quê? A gente entendia que havia uma força de instrumento pedagógico ali, de produção de conhecimento. E acabou se tornando o programa de TV da “galera”. As entidades municipalistas participavam do canal, os fóruns de gestores participavam do canal, os parlamentares participavam do canal, o Célio Turino participava do canal, os movimentos nacionais participavam do canal. Virou um ponto de reencontro. O canal gerava um ponto de encontro, de atualização de informações e de inspiração, de motivação. Claro que houve outros movimentos, estaduais, nacionais, que também fizeram várias ações de mobilização. Mas com essa característica de trazer o sentido de mobilização, produção de conhecimento, o processo pedagógico, a continuidade, quase uma cobertura permanente do processo. Tivemos, no canal, uma cobertura permanente do processo. Então, apesar de ter sido descentralizado, porque havia vários comitês, havia várias comunidades espalhadas pelo Brasil, foi importante ter esse canal centralizado para, justamente, conseguir integrar as motivações e os anseios de todos e construir uma só lei… Para aprovar, para construir a lei, para mobilizar a aprovação, para conquistar a regulamentação, foi tudo nacional. O processo de produção de conhecimento, de difusão pedagógica do projeto de lei, foi nacional. Quando o recurso começou a ir para os Estados e Municípios, essa articulação se desidratou.
[Sharine] Passou a ser regional.
[Marcelo Ferreira] Essas pessoas viveram um processo de articulação no congresso, de aprovação, de sanção do Presidente. Chegou a regulamentação… Depois, todo esse conhecimento ficou para os municípios e para os estados. Então, houve a aplicação de uma lei descentralizada e muito diferente de cidade para cidade. O mesmo ocorreu entre estados: a lei é diferente de estado para estado. Não existe uma uniformidade. A regulamentação também apresenta brechas. Ela ficou mal feita nesse sentido. Poderia ter avançado por algumas uniformidades nacionais… Basicamente, é isso.
[Sharine] Mas, por outro lado, gerou a oportunidade para as localidades conseguirem trabalhar com suas especificidades culturais. Bom, você já disse que acompanhou todo o processo de elaboração da lei. Quais foram os fatores que mais contribuíram para aprovação? Você disse que foi, de fato, a mobilização popular e o mapeamento do Congresso…
[Marcelo Ferreira] Há vários pontos favoráveis. Um ponto favorável foi a pandemia. Porque ela disponibilizou o tempo das pessoas para mobilização. Outro ponto favorável foi que, pela primeira vez no Brasil, unificou-se um problema de todo o setor cultura, de A a Z. As legislações eram ofertadas para um segmento. Elas podiam até ser amplas, como o Programa Cultura Viva ou a Lei Rouanet. Elas podiam ser amplas, mas não eram universalizantes. Quando o setor está paralisado, tem tempo para se mobilizar e consegue encontrar uma solução para todos, há um problema comum e as pessoas podem se unir. Outro ponto favorável é que a sociedade brasileira, a imprensa, começa a contar a tragédia que o setor cultural está vivendo. A população, de maneira geral, começa a ver a fome de agentes culturais e artistas locais. Até então, todo mundo na família tem alguém que toca uma música, que toca num barzinho, que faz alguma rave, alguma coisa… Então, compreendia-se que o setor existia, independentemente de ter ou não financiamento. A sociedade também reconhecia que havia um problema no setor: a sociedade, o público. Ao mesmo tempo, estava-se consumindo muito mais conteúdo cultural, porque as pessoas estavam em casa, no ócio. Outro fator que favoreceu foi a política de descentralização. Todos os governadores e todos os prefeitos que receberam a demanda também viram ali uma possibilidade de resolver o problema local. Teve direita, centro e esquerda. Outro ponto favorável foi que existia um grupo, como o nosso, que já tinha feito uma mobilização popular para aprovação de uma lei, que era a Lei Cultura Viva. Nós já conhecíamos o processo legislativo e conhecíamos como construir. O nome da lei veio de uma deliberação de um “conversatório” latino-americano, de que o Santini participou, quando ficou decidido que o Movimento Cultura Viva Comunitária iria lutar por lei de emergência cultural. Conseguimos criar um nome simples, um conceito da lei. Porque lutar por uma lei chamada 1.075 não leva a lugar nenhum. Você pode ver: é “Lei da Ficha Limpa”, “Lei Maria da Penha”, “Lei de Cota”. Você dá um conceito, dá um tema-síntese para a lei. Outro ponto favorável foi que diversos partidos, parlamentares, apresentaram projetos de lei. Vamos supor: a direita apresentou um projeto de lei para financiamento por meio de banco público. A Jandira Fehgali compila esses diversos projetos de lei. Aqui há um outro ponto favorável: a relatora já tinha feito articulação de uma lei de diversidade cultural, que é a Lei Cultura Viva. A Jandira pegou isso e começou a articular com as lideranças. Os vários partidos de direita também tinham apresentado propostas. Ela foi construindo um relatório em que colocou essas propostas. Por exemplo, o Artigo 11 da Lei: um dispositivo para financiamento por meio de bancos públicos. Há outros pontos favoráveis de articulação da lei, pontos comuns. É isso: a experiência do grupo, um grupo experiente em mobilização. Tudo isso desencadeou um processo colaborativo muito grande. Há o tempo das pessoas, por causa da necessidade comum. Acho que é mais ou menos isso.
[Sharine] E as dificuldades, quais foram? Tanto na formação, quanto agora, durante a implementação da lei.
[Marcelo Ferreira] Eu costumava dizer, na época, que estávamos com o Espírito do Tempo ao nosso lado, porque não havia dificuldades para mobilizar. Era fácil. Os movimentos eram unidos. Não havia disputa, como havia antes, entre os movimentos. Não havia mais crise de protagonismo. Não havia mais aquelas coisas, que os movimentos têm muito, umas divergências de pessoas, de métodos. Foi o Espírito do Tempo mesmo. Houve um momento em que se fez uma coalizão nacional, entre entidades municipalistas, fóruns gestores, parlamentares, movimentos sociais da cultura, que foi vitória atrás de vitória. As webconferências deram uma abrangência de construção popular. Então, não houve muita dificuldade.
Foi um fenômeno, foi um fenômeno! Espírito do Tempo! As variáveis de que eu falei antes culminaram numa força que alimentava as pessoas. Todo mundo era empolgado, todo mundo trabalhava, todo mundo compartilhava, assistia aos vídeos. Quando começaram as dificuldades? Na hora da implementação. As dificuldades da implementação são: a falta de um Sistema Nacional de Cultura, a falta de uma regulamentação, a falta de um Cadastro Nacional da Cultura, a falta de uma experiência de Fundo a Fundo. Estou participando de uma pesquisa. Descobrimos que 560 municípios não executaram, em 2019, nem um real para a Cultura.
Mesmo os outros municípios que tinham experiência com a cultura, tinham experiência com a cultura a partir de festas religiosas que os municípios faziam. É uma estrutura de eventos temáticos, de um calendário da cidade, que olha muito para o calendário religioso ou para o calendário de produção agrícola do município. Não existia uma prática de apoio ao setor cultural, buscando a universalidade. Essa é uma dificuldade. Outra dificuldade é o conceito de amplitude, de universalidade da lei. Ela atendeu desde a pequena ou microempresa até o trabalhador informal da cultura, de todos os segmentos. Isto também foi uma dificuldade grande: a baixa intensidade democrática do Brasil, de participação popular, de participação social. Em muitas cidades, foi um choque. “Além de criar uma política para vocês, ainda temos que participar da construção?”. Há também a baixa estrutura das secretarias de cultura, de pessoal. Sistemas Municipais de Cultura quase sem nenhum sistema, sem cadastro, sem experiência jurídica de gestão de políticas culturais. Acho que essas são as principais dificuldades.
[Sharine] E agora, na implementação da lei, com certeza, isso vai dificultar um pouco para que o dinheiro chegue ao artista final.
[Marcelo Ferreira] A lei está 60% ou 70% aplicada. São Paulo, capital, já está finalizando o processo. É a cidade que recebe o maior recebe o maior número de recursos, R$ 70 milhões. Já foram homologados todos os espaços, já foram feitos editais. Começamos a ver onde estão os problemas. São vários problemas, mas eu avalio que os desafios e os problemas são menores do que os ganhos.
[Sharine] Que bom. Mesmo nas cidades do interior do Brasil…
[Marcelo Ferreira] O que está acontecendo é que todas as cidades com mais de 100 mil habitantes enviaram projetos de trabalho. Só que as cidades com mais de 100 mil habitantes são 1.500, 1.800 cidades, no máximo. A grande maioria é de cidades com menos de 100 mil habitantes. Então, há, na outra ponta, 20% dos municípios com menos de 20 mil habitantes, que não mandaram planos de ação. É complicado fazer uma análise da Lei Aldir Blanc nesse sentido, porque todos os problemas são positivos. São problemas que evidenciam a necessidade de um Sistema Nacional de Cultura e, ao mesmo tempo, inauguram, em diferentes escalas, em milhares de municípios, processos de políticas culturais que nunca tinham sido feitas.
[Sharine] Já que você tocou agora no Sistema Nacional de Cultura, qual sua importância para as políticas brasileiras?
[Marcelo Ferreira] O Sistema tem a questão da estrutura de operação, uma política de fundo a fundo, uma política de diretrizes, de planejamento. O Sistema Nacional de Cultura deve ser composto do Conselho, do Fundo e do Plano. No tocante à descentralização de recursos, é algo extraordinário. A lei Aldir Blanc possibilita uma operação do Sistema Nacional, que nunca tinha sido feita nessa escala. Esse é um ponto. Ela também cria um repertório de gestão pública onde não existia. Nos municípios, inaugura-se uma coordenação, uma secretaria, começa-se a se pensar num exercício da política pública de fomento e apoio, subsídio ao setor cultural da sociedade civil. A Lei também contribui para isso. Ele também contribui para uma coisa que é a apropriação do setor cultural sobre as políticas públicas. Antes, havia um segmento muito pequeno que compreendia como poderia funcionar uma descentralização federal entre municípios e estados para distribuir recursos. Hoje há um salto de milhares e milhares de pessoas que se apropriaram disso. É muito positivo para o sistema. Enfim, o sistema é vital. Não se opera uma política pública, no município, no estado ou na união, se não houver um sistema em que há: financiamento, geração de indicadores, participação social, plano. Você não consegue, não tem como executar uma política pública de excelência se não pensar em um sistema completo de implementação, de produção…
[Sharine] E qual é a diferença e a importância do financiamento público e do financiamento privado para as artes? Porque há outras instituições, como o Itaú Cultural e o SESC, que são privadas e também atuam no fomento à cultura. Qual a importância, específica, do sistema público? E qual o papel complementar desses dois sistemas?
[Marcelo Ferreira] Precisamos fazer um debate. Praticamente não existe financiamento privado no Brasil porque o Itaú trabalha com Lei Rouanet – é dinheiro público operado por uma entidade privada. O SESC, Sistema S, também usa dinheiro público a partir do momento em que tem uma vinculação tributária que gera receita. Praticamente, no Brasil não há financiamento privado. O financiamento privado no Brasil é muito pequeno.
É uma política pública conduzida pela iniciativa privada. Mas é dinheiro público. Então, a importância disso é fundamental, pensando na cultura como um direito humano. O acesso à produção cultural, à formação cultural, à difusão cultural, ao implemento cultural, é vital para o desenvolvimento da sociedade, mais até do que a arte. A arte é uma esfera da cultura, não é a cultura. É um segmento da cultura. Então, o fomento público é fundamental para que a cultura seja um agente transformador de valores civilizatórios, de geração de renda. Há estudos da Fundação Getúlio Vargas que asseguram que todo recurso que é investido em edital, em fomento, possibilita que o Estado arrecade 1,5 a mais, em impostos gerados pela cadeia produtiva. O financiamento público injeta recursos numa cadeia produtiva que é amplamente lucrativa para o próprio estado. Então, ela tem seu valor de geração de riqueza para o país, de geração de processo civilizatório, de ampliação de repertório cultural, diversidade. Podemos enumerar tudo isso no sentido amplo. Mas ela é vital para o desenvolvimento civilizatório da sociedade.
[Sharine] E o papel da iniciativa privada nisso?
[Marcelo Ferreira] Há duas camadas na iniciativa privada: há a iniciativa privada que fomenta o setor, que mobiliza o setor, que produz, como o SESC, como o Itaú Cultural. Eles colaboram com o processo de financiamento. Mas eu sinto que a iniciativa privada, no Brasil, na área da cultura, é pouco desenvolvida, é muito pouco desenvolvida. Qual a maior experiência real que temos disso? A indústria da música tem uma força muito grande, principalmente nesses ritmos mais populares, que as pessoas chamam de comercial. Ela tem uma vida própria, que muda muito nesse contexto, na forma de distribuir e divulgar os trabalhos, com o aporte de venda nas redes sociais. Há uma mudança brutal. Hoje, é possível ter um custo de produção e difusão muito maior. Mas, tirando a música e alguns casos do audiovisual, a cadeia produtiva da cultura ainda é muito dependente do setor público. Para mim, qual o desafio da iniciativa privada? É ser financiada pela própria bilheteria. Quer dizer, o teatro ser financiado pelo público. Quem hoje ainda consegue viver com recursos arrecadados em bilheteria? São fenômenos… Uma experiência é o circo. O circo consegue manter uma sustentabilidade com a bilheteria do espetáculo. Mas, no teatro, hoje em dia, por exemplo, não há nenhum grupo no Brasil que vive de bilheteria. Não existe um mercado de consumo teatral, que possibilite o sustento das companhias de teatro ou das companhias de dança. Eu não conheço mais a fundo outros setores. Até mesmo o audiovisual, no Brasil, é muito subsidiado. Não há uma cadeia de consumo que permita que tenha uma vida própria.
[Sharine] Quais opiniões os artistas têm em relação às instituições culturais? Por instituições culturais, podemos entender tanto em nível macro, como a Secretaria Especial de Cultura, quanto um teatro de bairro, um ponto de cultura… Qual a relação institucional dos artistas?
[Marcelo Ferreira] Temos que entender que são diferentes níveis de consciência, diferentes níveis de percepção. Há um segmento mais classe média, que se apropria das políticas culturais, no sentido de conhecer as regras do jogo e como se desencadeiam. Então, ele participa de editais, tem repertório para escrever projetos, para fazer planejamento, para vender seus projetos para as instituições. Eu diria que, talvez, isso seja 10%, 15%, 20%. É um quarto do setor que tem essa possibilidade, ou até menos, eu acho. E há uma camada que produz cultura independentemente dessas organizações, que não tem uma relação com essas instituições. As instituições atendem um número muito pequeno de artistas no Brasil. Elas não dão conta, não têm esse objetivo. Dentro do próprio setor cultural, há uma elite apropriada dos mecanismos de fomento e uma grande parcela que nem passa por isso, que não está nesse nível de institucionalidade.
[Sharine] Então, eles acabam produzindo ou com recursos próprios, ou com os auxílios locais…
[Marcelo Ferreira] Produzem com recursos próprios. Vou lhe dar um exemplo: quantas rodas de samba existem? Que acontecem muito nos finais de semana no Brasil? Por mais que cada unidade do SESC faça cinco shows ou três shows no final de semana, é irrisório perto do número de rodas de samba, rodas de capoeira… Vou falar de coisas bem populares… O próprio fenômeno da música sertaneja, há dezenas de casa de pequeno porte, de música sertaneja, bares. Enfim, tudo isso é esse mercado que junta o que é informal, precarizado, e que desencadeia um processo muito maior do que as ações culturais institucionais. Agora, a institucionalidade é importante porque consegue definir políticas mais profundas, mais sistêmicas. Acho que é isso.
[Sharine] Obrigada, Marcelo. Agradeço muito sua participação.