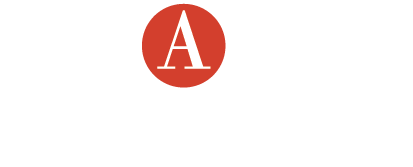Canclini no Brasil
Conversa com Canclini,
por Sharine Melo e Juan Brizuela
[Sharine] Professor, agradecemos muito a oportunidade tanto de trabalhar com você durante esse tempo quanto de fazer esta entrevista. A proposta é que seja uma conversa informal. Não trouxemos perguntas prontas, fechadas. Mas estabelecemos alguns tópicos, como pesquisadores que trabalharam com você durante um tempo, sobre os quais temos curiosidade de conhecer um pouco mais. O primeiro tópico tem relação com artistas e pensadores do Brasil, como uma constante nas viagens entre Argentina e México desde os anos 80.
[García Canclini] Felizmente, minha relação com o Brasil começou muito cedo e tem sido muito longa. Em parte, isso tem a ver com o fato de que venho de uma família evangélica, de La Plata, Argentina. Fui à igreja até os 16 anos, mas continuei relacionado ao movimento estudantil cristão, que era um movimento mundial. Havia a federação mundial de movimentos estudantis ecuménicos, havia evangélicos, católicos. Na América Latina, era especialmente forte na Argentina e no Brasil. Tínhamos uma relação muito frequente entre os movimentos que estavam em várias cidades argentinas. Eram movimentos ecuménicos. Muitos de nós já não íamos às igrejas, mas queríamos um contexto de conversação ao mesmo tempo que éramos estudantes universitários. Por exemplo, estudamos o marxismo. Quando estudei filosofia na universidade, quase não se ensinava [marxismo]; vi somente em um curso e de maneira breve. No Brasil, era um movimento muito efervescente de alfabetização popular. Então, conheci o movimento dos estudantes brasileiros que participavam das campanhas impulsionadas por Paulo Freire. Visitei São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e fui me entusiasmando pela música, pela literatura, pelas culturas brasileiras. Algo que nunca contei, a não ser a amigos, foi que isso fez com que, há 25 anos, quando me casei com minha primeira esposa, decidimos viajar ao Rio de Janeiro na lua de mel. Foi uma viagem em que o Rio não foi a primeira cidade brasileira que visitamos porque, durante o voo, um dos motores do avião começou a pegar fogo e aterrizamos em Florianópolis, onde passamos a primeira noite antes de seguir para o Rio. Ali também conheci outros amigos. Eu me lembro, por exemplo, de um humorista brasileiro, Claudius Ceccon, de quem nos aproximamos muito. Bom, essa foi uma parte de uma longa história de viagens. Acredito que já fiz mais de vinte viagens ao Brasil, às vezes por períodos mais longos. [Passei] três semanas dando um curso todos os dias na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, sobre consumos culturais urbanos, convidado por Aracy Amaral. Também tive contato com exilados brasileiros na Argentina. Eu tinha conhecido Ferreira Gullar e outros poetas brasileiros e, quando Ferreira Gullar foi exilado em Buenos Aires, também mantivemos relação. Talvez um dos intercâmbios mais importantes foi com Augusto Boal. Eu tinha visto um show dele no Rio, creio que em 1965, o Opinião, com Nara Leão. Depois, quando Augusto esteve em Buenos Aires, eu o convidei a assistir minhas aulas, na Universidade de La Plata, onde ensinava teoria da arte contemporânea, estética. Ele vinha e jogava com suas técnicas de teatro improvisado, participativo, convertendo a aula em outra coisa. Fascinante, não? Esse tipo de intercâmbio, com muitas pessoas, fez com que eu conhecesse muito da cultura do Brasil, com que me identificasse muito. Eu me lembro de Rubens Gerchman, de outros artistas, de críticos importantes no Rio de Janeiro, e de sociólogos. Por exemplo, em 1985, criamos no CLACSO (Conselho Latino-americano de Ciências Sociais) um grupo de políticas culturais. Uma das primeiras decisões que tomamos foi não estudar somente as políticas culturais, mas também os consumos culturais. Ou seja, como eram recebidas as políticas, como eram geradas novas ações políticas culturais a partir dos movimentos comunitários, dos grupos de artistas e dos públicos. O que acontecia com o público? Não havia pesquisas naquele momento, nem seque ruma sistematização de dados, de estatísticas, de pesquisas nacionais sobre práticas culturais, como já havia em países europeus, como a França, por exemplo. Então, começamos a fazer grandes pesquisas em quatro cidades: São Paulo, Buenos Aires, México (eu já morava no México), e Santiago do Chile. Os responsáveis pelo estudo em São Paulo foram Sérgio Miceli e Antônio Augusto Arantes. Arantes, como antropólogo, fez também um estudo qualitativo sobre a recepção e apropriação de bens culturais. No México, eu também trabalhei em uma pesquisa com 1500 famílias na Cidade do México, em1986, que teve muita relação com a de Sérgio e Antônio Augusto em São Paulo, porque desenhamos juntos, nas quatro cidades, a pesquisa, com algumas adaptações próprias a cada cidade. Com Antônio Augusto, que realizou em São Paulo esse estudo etnográfico, eu coordenei um grupo de antropólogos, também no México, com o qual fizemos os primeiros estudos de consumo cultural. Então, existia esse intercâmbio académico, artístico, muita fascinação. Depois fui à Bahia e a outros lugares também.
[Sharine] Você disse que foi cativado pela música, pelo teatro, pelas artes visuais brasileiras, por todas essas linguagens, mas principalmente pela música, Há uma entrevista sua, em que você fala que dançou o samba de gafieira antes do tango. Poderia falar um pouquinho sobre essa relação?
[García Canclini] Sim, a Bahia foi um lugar de grande descobrimento para mim, assim como quando visitei pela primeira vez o Peru, a Bolívia, fui a Cusco, a Machu Picchu, descobri as culturas indígenas que não se pareciam exatamente… mas que se pareciam muito com as do norte argentino, que nunca havia visitado. Fui ao norte argentino quando já vivia no México. Enquanto vivia em La Plata e Buenos Aires, havia um horizonte muito limitado rio-platense. Fui a Jujuy e a Salta quando já vivia no México, em uma viagem para um Congresso na Argentina. No caso da Bahia, também foi o descobrimento do afro na América Latina. Depois tive outra experiencia extraordinária, creio que foi em 2003, em um mercado cultural latino-americano, realizado em Recife, frequentado por por artistas, principalmente brasileiros, mas também de muitíssimos outros países da américa-latina. Havia até um grande músico e cantor de Angola. Havia pessoas de outras regiões, alguns poucos europeus. Basicamente, era um lugar de intercâmbio, com sentido de mercado. Foram convidados também muitas produtoras culturais para que conhecessem artistas de diferentes gêneros e correntes da América Latina e os contratassem, se se interessassem por eles. O principal era a música. Havia também obras de teatro, uma exposição de artes visuais, não muito boa, havia concertos de rock à noite, em lugares fechados e ao ar livre. Lá conheci músicos excelentes do nordeste, não somente da Bahia, mas também muitos da música Pernambucana, que não conhecia, e alguns paulistas que, naquele momento, começavam a aparecer no mainstream. Eu me lembro de um grande concerto de Ná Ozzetti com José Miguel Wisnik e Luis Tatit. Foi um dos descobrimentos. Eram paulistas, mas os conheci em Recife. Tenho uma grande sintonia com essa música. Na minha pequena discoteca, é um lugar privilegiado, que ocupa um espaço importante. Cada vez que viajo ao Brasil, compro muitos livros e, sobretudo, discos. É curioso porque nunca estudei sistematicamente o português. Entendo bastante, não sei falar, apenas simulando um pouco. Mas tenho sonhado conversas em português, ou em brasileiro, e acredito que sejam mais corretas do que as reais.
[Juan] Uma das coisas que conversamos, com a Sharine e a equipe da Cátedra, como uma das curiosidades que surgiram com o tempo de trabalho, vendo um pouco sua relação com o Brasil, foi como cada uma dessas experiências vai tomando uma forma particular ou não convencional, o modo como o veem como investigador, de que disciplina se trata. Parece-nos que o estranhamento, ou a estranheza, aparece de forma explicita em O mundo inteiro como um lugar estranho. Sua própria história de vida, suas experiências em antropologia, filosofia, sociologia, comunicação, cada um desses lugares influencia um pouco, mas não se torna um mundo particular. Tudo isso nos aparecia como a dimensão do estranho, do estranhamento, como uma ferramenta, como uma perspectiva que, de alguma forma, se assume como mais explícita ou implícita. Gostaria de entender se isso, de alguma forma, tem a ver com sua metodologia, se foi pensado ou se foi acontecendo neste sentido.
[García Canclini] Sim, há várias linhas para se seguir, que considero efetivamente vertebrais no que você disse. Há uma parte, que não podemos evitar, que são os condicionamentos pelos quais chegamos a fazer ciências sociais ou filosofia. Estudei filosofia e comecei a fazer antropologia no México. Mas, na realidade, fui bastante estrangeiro desde muito novo porque, como disse, minha família era evangélica. Eu fui à escola primaria no único período, na Argentina, em que o ensino católico era obrigatório, no governo de Perón. Como era evangélico, nas horas dedicadas ao ensino religioso, tiravam os judeus e evangélicos do curso, nos colocavam em outro lugar e nos davam aula de moral. Isso já era uma expulsão. Ao menos nos fazia sentir diferentes. Assim foram várias situações vitais, que condicionaram uma sensibilização necessária, obrigatória, a sentir-se outro e estar atento ao que se passava com os outros, a escutar. Sem dúvida, a maior foi vir ao México, uma mudança de uma sociedade predominantemente branca, ou que se acreditava branca como a Argentina, com uma histórica pouco densa, muito esquecida, para um país com uma história extraordinariamente presente no cotidiano contemporâneo, como a do México, onde o indígena tem sido abduzido, absorvido, maltratado, mas integrado, entre aspas, à cultura nacional que, como sabemos, são muitas culturas. Esse foi um salto extraordinário, que ocorreu junto à migração da filosofia para a antropologia. Nunca deixei de fazer filosofia, por isso tenho interesse teórico pelas ciências sociais, pela teoria da arte e da literatura. Mas acredito que isso foi um condicionamento muito importante, o fato de ser exilado da Argentina. Já havia morado na França por um ano, mas como estudante, como possibilidades muito menores de integração à sociedade francesa do que a que tive no México, onde logo consegui trabalho, tive alunos mexicanos e também de outros países latino-americanos. Enfim, uma quantidade enorme de experiências que já contei várias vezes em outras ocasiões. Isso cria disposições diferentes para o estranho, que levamos em nós mesmos, todos levamos. Alguns conseguem neutralizá-lo um pouco mais. No entanto, há essa necessidade de escutar a si mesmo, de sentir o estrangeiro que há em si, os muitos estrangeiros que podem habitar: o fato de ter tido uma formação cultural europeizada, afrancesada, e logo aprender a ser mexicano, a justificar a nacionalidade que me deram e a dedicar-me a estudar o México. Meu primeiro trabalho de campo foi em Michoacán, uma zona indígena e mestiça, no centro do país. Isso foi muito importante para me descentrar e olhar de muitos lugares o que é possível fazer em ciências sociais, sabendo que não há nenhuma teoria, nenhum paradigma que nos dê a certeza que às vezes se pensou ser possível conseguir nas etapas mais ingênuas da filosofia e das ciências sociais. Também fiz exercício ilegal de outras profissões. A única para que fui habilitado é a filosofia. Vivi com a antropologia no México e aprendi a ser antropólogo com os alunos e, certamente, com os colegas, com a excelente comunidade antropológica, etnográfica que há no México.
Para mim, algo decisivo também foi conviver com o mundo artístico. Convivi com artistas, eu mesmo escrevi uma ficção. Ensinei, na Argentina, antes de ser exilado, teoria da arte e estética para alunos, alguns deles historiadores da arte ou com intenção de ser. Em La Plata, sobretudo, ofereci cursos a alunos de artes visuais, de cinema e teatro. Então, esses 120 alunos do curso de estética faziam perguntas sobre suas disciplinas e criavam diálogos riquíssimos, multifacetados, contribuíam com muitas teorias que emergiam de sua própria prática artística. Nessa audácia, cheguei a fazer a curadoria de três exposições. A primeira surgiu no Mexico, quando investigamos a potência da fotografia para descobrir o que os viajantes da Cidade do México queriam contar. Fizemos uma pesquisa com um historiador da fotografia mexicano e com uma antropóloga, Ana Rosa Mantecón, que trabalhou a parte do cinema, mais precisamente como as viagens pela Cidade do México foram representadas no cinema. Eu explorei, nos arquivos, como se havia viajado na Cidade do México na segunda metade do século XX. Fizemos essa pesquisa em 1996, 1997. Fizemos uma exposição com unas 120 imagens de diferentes épocas, na Galeria Metropolitana da Universidade Autônoma Metropolitana, à qual sou vinculado. É uma galeria que está no centro da cidade. Escolhemos umas 50 fotos, de épocas distintas, e formamos grupos focais para conversar sobre essas fotos. O ponto de partida era pedir a pessoas que viajam intensamente pela cidade, como distribuidores de alimentos, mães que levam seus filos para a escola, policiais de trânsito e profissionais distintos, que escolhessem 10 fotos, entre essas 50, que lhes pareciam mais representativas do modo como se viaja pela cidade. Quando terminavam de escolher, concordavam majoritariamente, nós lhes perguntávamos “que foto falta”. Eles contavam histórias. Vimos tanto potencial nesses diálogos que fizemos um libro, que se chama La ciudad de los viajeros, que está publicado em espanhol pelo Fundo de Cultura Econômica, em que recorremos muito a essa conversação e a analisamos. É como uma maneira de entrar na cidade por meio das viagens. É algo fundamental, viaja-se muito, por várias horas, para ir ao trabalho, ir trabalhar ou consumir na cidade. Por outro lado, foi uma maneira de ter acesso a relatos urbanos de uma forma distinta daquela de ir a um bairro, a uma colônia ou de instalar-se e observar, o que também é necessário, também é legítimo. Foi uma tentativa de captar a experiencia dos viajantes. Essa foi a primeira experiência de curadoria, dentro da pesquisa e, em seguida, na exposição. Depois fizemos duas experiências com o tema do estrangeiro. Pedi a Andrea Giunta, uma grande amiga, e uma das melhores curadoras e historiadoras da arte na América-Latina. Por exemplo, ela foi curadora da última Bienal do Mercosul em Porto Alegre, que foi virtual porque não havia a possibilidade de ser presencial. Com Andrea fizemos antes uma investigação, uma exploração, o que demoraria muito para contar agora. Convidamos artistas como Regina Silveira, do Brasil, artistas argentinos, mexicanos – do México, estava Carlos Amorales – e outros artistas de distintos países. Em um primeiro momento, nós os exibimos em uma exposição um pouco menor, no espaço da Fundação Telefônica, em Buenos Aires. Depois fizemos uma exposição que ocupava quase todo o Museu Universitário de Arte Contemporânea do México, o MUAC. É um dos três museus de arte contemporânea que há na Cidade do México, e um dos mais importantes do país. Ali fizemos uma experiência extraordinária, com um público muito numeroso. Em alguns finais de semana, havia quase nove mil visitantes. Fizemos até uma pequena pesquisa, quase uma investigação etnográfica, da qual participaram Carla Pinochet e Verónica Gerber, uma artista visual e escritora. Ela se define como uma artista visual que escreve. Elas fizeram essa pesquisa com o público, trabalhei com elas, e nos passaram coisas muito interessantes. A obra que, talvez, tenha tido mais repercussão, no MUAC, é de uma artista argentina, Graciela Sacco, de Rosário, que faleceu há poucos anos. Era um espaço como um cubo alargado, que tinha abaixo a imagem de um oceano. Nas paredes e nos lados, havia pequenas varas, madeiras que o enquadravam. As pessoas entravam no cubo e tinham a experiência do infinito, da imensidão. Por uma decisão dos montadores, dos curadores dos museus, o cubo não foi instalado em uma parede, mas no centro de uma sala. Os espectadores descobriram que havia maneiras de jogar com as sombras. Então, dançavam, moviam seus corpos, faziam gestos com as mãos, gestos com os rostos, por trás da obra, e isso criava ilusões enormes. O título dado por Graciela Sacco à obra era Cualquier salida puede ser un encierro. Parece-me que há muitas interpretações possíveis, mas relacionando às migrações e aos que podemos aprender com o fora, é uma abertura, uma saída do etnocentrismo, é uma aprendizagem de outro modo de vida, que pode ser até mesmo mais legítimo e que também podemos incorporar. Mas essa saída pode ser também um confinamento.
[Sharine] Obrigada, professor. Já que estava falando sobre as artes, sobre as exposições de que foi curador e, recentemente, sobre o livro Pistas falsas que é um livro de literatura e ficção, gostaríamos de saber como a ficção pode contribuir para modelos acadêmicos mais tradicionais como forma também de análise do mundo contemporâneo. É outra forma de análise, mas também uma forma de conhecer o mundo contemporâneo, de conhecer o mundo onde vivemos.
[García Canclini] É assim como você disse, por muitas razões. De um lado, porque a arte cria outras cenas para conhecer, cenas que não são visíveis na investigação sistemática dos cientistas sociais, seja estatística ou etnográfica. Hoje sabemos, por exemplo, por investigações de antropólogos que têm visitado, pela segunda ou terceira vez, um lugar muito estudado, como Samoa. Sabemos que Margareth Smith possivelmente inventou algumas das coisas que disse ter visto, mas os informantes que ela recebia também inventavam, talvez por defesa. Eu já vivi essa experiência e creio que muitos antropólogos também: quando os outros são muito distintos, como um afro perante um branco, um crioulo, um indígena, perante alguém que não é, eles resistem a serem entrevistados, assim como resistem a serem fotografados em muitos casos, a ser explorados pelo que são. O que significa um ritual? Pode-se assistir, entender algo. Outras partes permanecem obscuras, na penumbra. Alguém pergunta e contam-lhe, mas às vezes há núcleos na cultura que não querem revelar. Sempre há esta parte de ilusão. Não é a transcrição etnográfica, realista, de uma verdade. Não há uma verdade. Há aproximações. As distintas estratégias que seguimos com as estatísticas, com a etnografia, são aproximações. Pode ser que tenham esse sentido que atribuímos. Então, a ficção e a arte não estão tão distantes das ciências chamadas sociais. Têm objetivos distintos porque a arte não busca a verdade nem a realidade como ela é, mas busca transformá-la, imaginar realidades alternativas. De todo modo, é um velho problema das distintas disciplinas: as artísticas e sociais. Como nomear o real? Como averiguar o sentido que tem para uns e para outros até mesmo dentro de uma comunidade? Para mim, a ficção é um caminho fascinante, atrativo, para buscar, para encontrar o lugar oculto, o caminho aparentemente fechado, ou a fenda pela qual podemos entrar. Sempre me atraiu escrever ficção. Escrevi contos que, por autocrítica, nunca publiquei, até que me animei, primeiro com um livro que também está publicado em português, O mundo inteiro como um lugar estranho. Me animei a ficcionalizar algumas cenas para poder dizer algo – ou algo que outros haviam dito – do qual eu não estava seguro ou que questionava o que eu pensava que eles faziam. Em Pistas falsas, tratei de fazer, mais deliberadamente, ficção. Creio que, no Caderno de Pesquisa N. 1, que fizemos nesta investigação, a introdução de Teixeira Coelho é eloquente para falar sobre as oscilações do sentido entre as quais nos movemos e das quais estou falando agora.
[Juan] Bem, já estamos nos aproximando do final desta conversa e agradecemos. Sharine vai encerrar. Vou tentar juntar duas perguntas, também nesta relação do olhar do estrangeiro vivendo no Brasil. No meu caso, se trata de um esforço para apresentar o vasto universo da América Latina. Fala-se do Brasil e da América Latina como se fossem duas coisas diferentes. No entanto, lembramos que todos estamos em um contexto latino-americano e que temos muitas coisas em comum. Mas me dou conta também – em especial quando aparece o México ou outros países – de que não sei até que ponto é tão frequente essa relação entre México e Brasil, esses imaginários. De alguma forma, o Brasil também é mais uma forma de caricatura ou de coisas imaginadas e muito menos uma experiência real, frequente no cotidiano. Então, é justamente essa questão de pensar sobre as instituições culturais em vez de perguntar sobre quanto o Brasil pode ser mais conhecido a partir de outras experiências, ou seja, o que o Brasil pode nos ensinar a partir de suas e experiências e trajetórias, o que o Brasil pode ensinar ao restante da América-Latina ou ao México, em particular, sobre as instituições culturais. Que tipo de práticas ou de coisas aparecerem no Brasil? Talvez de forma simplista… Como o Brasil pode nos ensinar a ser latino-americanos?
[García Canclini] Sim, é o que temos tratado de fazer durante este ano e meio de investigação. Sou muito grato ao Instituto de Estudos Avançados, à Universidade de São Paulo, à Cátedra Olavo Setubal, por esta oportunidade, que teve seus tropeços por ser realizada durante a pandemia. Havia um plano de que eu faria dois seminários, um no início e outro no final, em São Paulo; iria acompanhá-los talvez um pouco mais no trabalho de campo; e vocês poderiam fazer o trabalho em um povoado, em centros culturais, entrevistando em seus locais de vida, as pessoas das instituições que, na realidade, estiveram fechadas na maior parte do tempo. Para mim, tem sido uma experiência única, como tem sido, em geral, a pandemia para o mundo, para nós que não tivemos a experiência da pandemia anterior, um século atrás. Tem-nos chegado perguntas sobre o que podemos conhecer. Em uma das conversas que tivemos, nessas conferências por Zoom que tivemos periodicamente, também com Mariana, minha assistente no México, vimos que, quando nos falam de uma entrevista no Zoom, que está sendo transmitida por um ponto de cultura, um centro cultural ou museu fechado, não é como se não houvesse nada, como se a pandemia tivesse nos deixado um branco. Isso tem nos exigido repensar as instituições com a espessura das histórias que temos. Eu vi, nas entrevistas que fizeram no Brasil, que mesmo centros fechados, museus ou pontos de cultura que não estavam funcionando do ponto de vista físico estavam funcionando de modo virtual. A Lei Aldir Blanc foi construída de forma virtual, foi redigida, aprovada e teve esse enorme impacto na cultura brasileira. Constantemente, nas transcrições que li das entrevistas que fizeram, aparecia essa densidade histórica. Porque diziam: “há três ou dez anos, em tal ponto de cultura, algo acontecia, eu participei desta maneira, houve tal discussão”. Ou seja, há uma história, que é sempre o que encontramos no trabalho de campo. Não vemos somente o que está acontecendo neste dia, na comunidade que visitamos, mas também nos falam de uma história anterior. Tudo ressoa, mas ressoa com espessura, com densidade. Sem dúvida é uma limitação não estar lá no momento que nos contam, não estar seguindo as reações dos outros, os olhares que se trocam, tudo isso que enriquece o trabalho etnográfico. Mas já existe uma grande bibliografia sobre etnografias digitais e sobre tudo o que se pode alcançar com essa forma de trabalho. Parece-me que a experiência deste ano que tem implicado em tantos estranhamentos, somente uma viagem minha a São Paulo por uns dias e a impossibilidade de vocês virem ao México, é algo que temos conversado. No entanto, [a experiência] nos deu aberturas. É algo sobre o que gostaria de conversar na conclusão do livro que estamos preparando. Em vez de escrever uma conclusão, realizar uma conversa sobre como víamos as perguntas que nos fazíamos sobre as instituições culturais no Brasil e no México no início da investigação e como as vemos hoje. Como vemos o que está acontecendo, o que poderia acontecer e o que foi se passando conosco em meio a tudo isso. Se hoje tivesse que escrever a Conferência Inaugural da Cátedra, eu a faria muito diferente. Não me arrependo do que disse em setembro de 2020. Já nem sabemos em que ano foi [risos]. Mas hoje fazemos outras perguntas e, por isso, escreveria uma conferência distinta. O mais rico foi podermos trabalhar em equipe, nós quatro, Juan, Sharine, Mariana e eu, e também com essa equipe ampliada, que são os entrevistados porque eles nos têm dado conhecimento. Estou muito agradecido de ter tido acesso a vários Brasis que não conhecia, graças a esta investigação. São, como dizíamos antes, sempre aproximações. O satisfatório não é que sejam muito consistentes, mas que sejam menos inconsistentes do que [as perguntas] que tínhamos há um ano e meio.
[Sharine] Já que você falou tanto sobre nosso processo de investigação, as entrevistas que fizemos também foram uma experencia única na minha vida. Tenho certeza de que, na do Juan, também. É uma coisa que não imaginava, que pudéssemos construir uma pesquisa desse jeito, com esse tipo de entrevistas, trabalhando de casa. Para mim, foi uma experiência maravilhosa, que vou levar para a vida. Gostaríamos de saber, então, como esses processos etnográficos – a metodologia de trabalho, a construção das entrevistas, o trabalho de campo – podem ajudar na construção de conceitos filosóficos, de conceitos sociológicos.
[Néstor] Nós trabalhamos com centros culturais e com instituições. Trabalhamos também com este formato, que não sabemos se podemos chamá-lo de institucional, que é o Zoom, que é a entrevista à distância, de forma virtual. É uma pergunta que fizemos na investigação: se as plataformas digitais, como Zoom, Facebook, Twitter, são as novas instituições. Ainda estamos averiguando. De todo modo, são as maneiras como hoje produzimos conhecimento, e não podemos prescindir delas. Já é um trabalho de campo possível. Mesmo que estejamos estudando somente as festas tradicionais, presenciais, com rituais arcaicos e difíceis de captar em muitos sentidos, em que se dança, se usa máscaras, se invocam espíritos, essas mesmas pessoas usam celular, estão em redes, falam com outros espíritos [risos]. Isso deve ser incorporado a nossa estratégia de investigação. É assim em todo o mundo. Não estamos fazendo nada de original. Há enormes dificuldades. É algo que não nos permite ver tudo o que acontece na sociedade. A instituição pareceria ser o lugar do estável, do duradouro. Em geral, sempre pensamos nas instituições como edifícios, cenários, cubos, museus, bibliotecas, cinemas. Sabemos que não é assim. Mesmo que o edifício permaneça, o que acontece lá muda muito. Uma sessão de cinema às duas da tarde é diferente de uma que ocorre às nove da noite. Um ritual indígena para 31 de dezembro, em Copacabana, é diferente do que acontece em Recife, em outra praia. Mas, ao mesmo tempo, há movimentos sociais. Algo que me entusiasmou nesta investigação é que tínhamos a intenção de estudar a institucionalidade da cultura e os movimentos socioculturais foram ocupando cada vez mais espaço em nossa exploração. Os movimentos sociais têm esse dinamismo incessante, às vezes atropelado, que não sabemos bem onde levam. Se pensarmos no que é chamado de movimento feminista na atualidade, talvez o mais potente de todos os movimentos que há no Ocidente, o que mais cresceu nas duas ou três últimas décadas, vemos, em primeiro lugar, que ele constantemente se desdobra em muitos movimentos feministas, segundo as gerações – as feministas de 40 ou 50 anos atrás são consideradas hoje de modo muito crítico pelas jovens, e vice-versa. O mesmo acontece com outros movimentos culturais ou socioculturais. Esses dinamismos da sociedade podem nos fazer agir de modo precipitado, podem nos confundir. Ao mesmo tempo, esse dinamismo que sempre existiu na sociedade se acelerou. Precisamos, talvez, dessa grande sacudida, dessa grande perturbação desses últimos anos – a pandemia, mas as outras perturbações também, como a perda de representação política, a desintegração e, às vezes, a caducidade dos sistemas político-partidários e de muitas instituições – para podermos estar mais atentos ao que emerge, que está em rede, que é tão instável como uma rede que entra no mar.
[Juan Ignacio] Por último, eu entendo que é o desafio do trabalho de campo na pandemia. Mas acho que já conversamos sobre isso e penso, por minha parte, que temos um bom material para trabalharmos sobre as pesquisas. Gostaríamos de agradecer, professor, mais uma vez a honra e o prazer. Nunca havia pensado na relação entre estranho e estrangeiro. Por quê? O que tem a ver? Foi quando vi a etimologia. Em francês, em especial, há somente uma letra diferente. Claro, faz todo sentido.
[Néstor] Sim, é o famoso libro de Julia Kristeva, Estrangeiros para nós mesmos.
[Juan Ignacio] Ela é francesa?
[Néstor] Acho que ela é romana, escreve em francês e tem transitado entre disciplinas. Sua formação foi linguística e foi uma grande semióloga, mas também fez psicanálise e faz teoria filosófica.
[Juan Ignacio] Muito obrigado.
[Sharine] Obrigada, professor.
[Néstor] Muito obrigado a vocês.