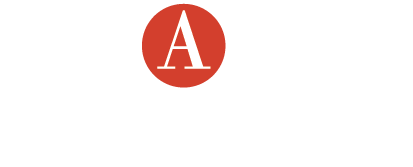Canclini na Cátedra
Entrevista com Daniele Canedo. Realizada virtualmente, pelo aplicativo Google Meet (São Paulo-Salvador), no dia 18 de setembro de 2023
Sharine: Obrigada por participar desta entrevista. Você também está fazendo uma pesquisa sobre a Lei Aldir Blanc e pensei que podemos trocar informações. Você poderia começar falando um pouco sobre sua trajetória profissional e, especificamente, sobre a questão das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo.
Daniele: Eu sou formada em produção cultural. Na minha vida acadêmica, que começou com o TCC [trabalho de conclusão de curso] para finalizar o curso, eu venho me dedicando a esse olhar das políticas culturais, da gestão cultural e, também, a partir do doutorado, da economia da cultura. Eu trabalho com isso em minha vida. Sou professora da UFRB [Universidade Federal do Recôncavo Baiano]. O curso principal é “política e gestão cultural”, mas dou aula também no curso de “produção musical”, de “música popular brasileira”, “de tecnologias do espetáculo”, sempre neste componente ligado à economia da cultura, às políticas culturais. Sou pesquisadora. Desde 2015, estou no Observatório da Economia Criativa da Bahia, que eu coordeno e onde desenvolvemos pesquisas nacionais sobre a Lei Aldir Blanc. Não sei se quer mais detalhes da trajetória…
Sharine: Fique à vontade. Fale sobre o que for confortável para falar.
Daniele: Então, tenho me dedicado a este tema, de forma sistemática, desde 2006: políticas, gestão cultural e economia da cultura, com essas formações e no campo de atuação. No OBEC [Observatório da Economia Criativa da Bahia], naquele momento em que a pandemia iria começar, nós estávamos planejando a nossa atuação do ano. Estávamos nos planejando para fazer uma grande pesquisa sobre o carnaval. Tínhamos decidido mudar um pouco o foco. O OBEC, Observatório da Economia Criativa da Bahia, é um projeto que surgiu com um edital do Ministério da Cultura, ainda na Secretaria de Economia Criativa, em 2013. Ele foi instalado em 2014. Mas, com a descontinuidade das políticas, com o impeachment, o golpe e, depois, a crise, a política foi descontinuada. Mas nós, aqui na Bahia, continuamos. Em um primeiro momento, estávamos muito dedicados a fazer eventos de difusão do conceito, discussões sobre a economia criativa. Mas, já no início de 2019, decidimos que queríamos ser um observatório que produz conhecimento sobre o campo. Nós nos dedicaríamos a pesquisas. Em 2019, nós nos debruçamos sobre diversas metodologias. O objetivo foi estudar um pouco mais sobre isso, entender o que faltava, discutir dados sobre a economia da cultura para, em 2020, começar a executar a primeira pesquisa. Então, em fevereiro de 2020, no finalzinho do mês, fizemos nossa primeira reunião para começar o trabalho e, uma semana depois, começamos a falar sobre a COVID-19. Por coincidência, meu esposo é da área de saúde, da FIOCRUZ. Aqui em casa, já estavam falando muito sobre a pandemia, o que viria. Eu perguntei: “mas isso que vocês estão falando é ‘tipo’ o que?”. Ele falou: “olha, vai fechar tudo”. “Vai fechar tudo o que?” Em nossa cabeça não entrava isso. Ele disse: “vai fechar tudo mesmo”. Eu disse: “por umas duas semanas?”. Ele disse: “não, por meses. De março até o final do ano e, talvez, fique mais tempo fechado”. Aquilo me surpreendeu. Eu falei: “o setor cultural vai quebrar”. O setor cultural não tem estrutura para isso. Trabalhamos de uma forma muito precária. Já somos precarizados antes da crise. Nossa crise já precedia a pandemia porque era um problema sério que estávamos vivendo, sem editais, sem continuidade nas políticas. Se fecha tudo, tira a fonte de renda de muitas pessoas, que vão passar fome. Eu chamei o grupo do OBEC e disse: “nós precisamos montar uma pesquisa que acompanhe os impactos da pandemia na economia criativa”. Então, nós fizemos uma pesquisa, que saiu no dia 27 de março. O decreto [Decreto Legislativo nº 6, de 2020] saiu no dia 17 ou 18 [foi publicado no Diário Oficial da União de 20 de março de 2020]. Dez dias depois já estávamos com a pesquisa na rua para acompanhar. Foi exatamente porque tivemos essa oportunidade de entender essa lógica talvez um pouco antes dos outros grupos. Isso foi muito intenso para mim. Eu estava trabalhando em casa. Todos nós do OBEC estávamos online e, às vezes, passávamos oito horas online por dia. Eu tinha duas crianças pequenas em casa. Mas, mesmo assim, meus filhos estavam comigo, e eu fazendo reunião, saindo, fazendo coisas. Nunca parei de trabalhar. Na pandemia, não tive esse momento de que as pessoas falam: “vou fazer o que hoje?”. Estávamos produzindo intensamente. Então, acompanhei de forma muito intensa os impactos da pandemia. Eu fazia reuniões com pessoas, conversava, entrevistava. Estava sabendo o que estava acontecendo. Quando começaram os movimentos, as mobilizações em prol de uma lei, em prol de políticas, eu já estava falando disso no Instagram, estava no movimento e comecei a participar dessas reuniões. Começamos a mandar nossos boletins para os deputados e as deputadas. Nós participamos, ainda no primeiro semestre de 2020 e início do segundo, intensamente das mobilizações para criação da Lei Aldir Blanc. Quando virou lei, nós já estávamos entregando a pesquisa Impactos [Impactos da COVID-19 na Economia Criativa]. Ainda estávamos pensando em uma segunda pesquisa. Apresentamos em agosto de 2020. Fizemos essa primeira pesquisa, Impactos, sem um real, sem recursos da universidade. Ou seja, com nossos salários, de alguns professores, e algumas pessoas trabalhando como voluntários. Mas, naquele momento, o tempo permitia, se você não tinha outra opção. Desde o início em que registramos, na Universidade, a pesquisa Impactos, já registramos como uma pesquisa de dois anos que, na primeira fase, registraria os impactos e, na segunda fase, acompanharia as políticas públicas para mitigar os efeitos da crise. Nós já entendíamos que, logo depois dos impactos, teria que ter uma política. Não imaginávamos que teríamos que lutar tanto para conseguir as políticas, que faríamos parte disso, como cada um de nós fez. Já organizamos, já registramos a pesquisa dessa forma. Para nós, era um processo natural. Mas como, na primeira fase, não tínhamos recebido recursos, entendemos que era muito importante tentar captar algum recurso para uma segunda etapa. No segundo semestre de 2020, nós nos dedicamos a tentar captar recursos. Conseguimos, já no final do ano, com uma emenda parlamentar de uma deputada da Bahia, a deputada Lídice da Mata. Também nos organizamos, participamos de muitos eventos, publicamos artigos, divulgando os resultados da pesquisa que tínhamos feito no primeiro semestre. Em 2021, começamos essa outra pesquisa, que estava registrada, desde o início, como uma pesquisa sobre os resultados das políticas públicas. Depois, demos uma identidade própria para ela, que se chamava: Pesquisa Panorama Nacional da Lei Aldir Blanc. Desenvolvemos essa segunda pesquisa entre 2021 e 2022, meados de 2023, porque ainda tem uma revisão que está sendo feita. Posso falar de cada uma dessas pesquisas. Mas essa pesquisa já se concentra nos resultados da Lei Aldir Blanc. No ano passado, no final de 2022, fomos procurados pela ainda Secretaria Especial de Cultura, mas por servidores permanentes do MinC [Ministério da Cultura] para fazermos uma nova pesquisa, que seria com os dados da Lei Aldir Blanc. Ou seja, teríamos acesso ao conjunto dos relatórios para que pudéssemos ajudar o MinC a mensurar os resultados. Essa é a pesquisa que estamos implementando agora, que se chama “LAB nos estados e municípios: pesquisa nacional de implementação e resultados da Lei Aldir Blanc”. Essa é uma pesquisa já com recursos do Ministério da Cultura, que está em andamento até o final do ano. De modo geral, podemos falar que a primeira pesquisa talvez interesse menos a você porque é mais sobre os impactos da COVID-19 na economia criativa. Mas as outras duas são pesquisas já focadas na Lei Aldir Blanc.
Sharine: Tudo isso é importante. Mas, no estágio atual da pesquisa, estou trabalhando mais com os resultados da Lei Aldir Blanc para as políticas públicas. A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a Paulo Gustavo e toda essa reestruturação do MinC, que acabou saindo um pouco, como os comitês de cultura e várias outras estruturas, dessa experiência da lei Aldir Blanc. Eu queria saber o que acha que houve de continuidade e de mudança em relação às políticas públicas anteriores, neste momento em que estamos.
Daniele: De modo geral?
Sharine: Sim.
Daniele: O que teve de continuidade… Há muitas coisas. Eu acho que esse movimento que estamos vivendo, o movimento de retomada das políticas culturais, é muito importante, em primeiro lugar, por causa da mobilização. É uma continuidade, mas também é uma inovação porque é uma implementação do que pretendíamos fazer. É interessante notar que a gente foi construindo todo o processo de conferências de cultura, de planos participativos, de construção participativa das políticas, desde 2003. Falo “a gente” porque todos nós fomos nos envolvendo, em alguma medida, com as conferências e tal. Em 2004, eu já estava participando de conferências, de eventos, de coisas assim. Também participei intensamente, trabalhando na Secretaria de Cultura do Estado. Fiz uma das conferências aqui. Fui uma das responsáveis pela Segunda Conferência Estadual de Cultura. Naquele momento, tínhamos dúvidas. Embora disséssemos, no discurso, claramente, que era importante, que a participação social é relevante para as políticas públicas, há um momento em que tudo parece pouco palpável. Eu acho que o movimento que nós fizemos, as vitórias que conseguimos para implementar a Lei Aldir Blanc, a Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura comprovam que essa participação dá resultado. Vimos de fato um engajamento. Certamente, há muita gente nova no processo, gente mais jovem ou gente que não participou porque estava em outros setores ou por outros motivos, mas há uma continuidade. Há um grupo da sociedade civil que se mobiliza e diz: “precisamos fazer alguma coisa, vocês terão que ter política, vamos ter que mobilizar um engajamento”. Quando olhamos aqueles vinte e poucos projetos de lei que geraram a Lei Aldir Blanc, vemos que isso está disperso. Não foi um deputado que recebeu e não foi iniciativa de deputado nenhum. Todos os deputados foram procurados por diversos setores da cultura e viram ali uma chance ou uma oportunidade de trabalho, de atuação política, de engajamento com o setor e apresentaram propostas. Por isso, essa lei é tão difusa. Tem a Benedita da Silva e a Jandira Feghali como representantes, a partir de um conjunto de legisladores e legisladoras que atuaram. Mas não foi iniciativa deles. Foi iniciativa popular. Da mesma forma, foi muito bonito ter participado do movimento que gerou a Paulo Gustavo. Estávamos no processo de implementação da Lei Aldir Blanc. Eu lembro que, quando recebi o primeiro convite para participar de uma reunião sobre uma nova lei, eu entrei online e fiquei surpresa porque havia vários globais no link. Íamos passando e estava lá a mulher do Caetano Veloso, o ator tal… Falávamos: “Nossa!”. Dava vontade de sair “printando” porque estávamos no mesmo ambiente que essas pessoas. Mas havia um chamado para que essas pessoas se envolvessem, que também questionassem. É muito bonito que tenhamos feito isso. Acho que, para mim, isso é uma continuidade: a participação. Mas também foi a primeira vez que colocamos em prática. Me preocupa agora. Uma vez o Boaventura de Souza Santos veio à Bahia e fez uma palestra aqui que nunca esqueci. Ele disse: “quando a esquerda está no poder, a esquerda se abstém de fazer pressão. Mas, quando a direita está no poder, a esquerda é muito eficiente em fazer pressão”. Sabemos que o processo de priorização das políticas públicas depende de pressão social, depende de um grupo, de um coletivo de pessoas que possam se mobilizar em prol de uma causa, que possam fazer, ou através do loby ou através do advocacy ou através do protesto em rua, de formas diferentes, barulho nas redes sociais, que possam lutar por essas causas para mostrar que são prioritárias. Quando fizemos isso no governo Bolsonaro, fomos muito eficientes. Talvez agora… Por exemplo, no processo de implementação da PNAB [Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura], eu já não vejo o mesmo nível de engajamento e participação. É como se tivesse arrefecido um pouquinho porque já estamos no Governo Lula, estamos na gestão Margareth Menezes. Isso me preocupa. Ao mesmo que vejo uma continuidade, vamos vendo descontinuidades. Entendemos que a gestão de Margareth também precisaria dessa pressão social para impor suas pautas. Precisaria de alguém dizendo o tempo inteiro: “isso aqui é fundamental porque as pessoas estão cobrando”. Mas, como todo mundo ama a Margareth, ninguém fala mal. Ninguém vai falar porque temos uma preocupação com o fogo amigo, com algo que possa desmobilizar, na verdade, que possa enfraquecer o Ministério. Acho que nossa participação social é um processo muito forte quando olhamos para as três leis. Mas já temos uma diferença para o que vínhamos fazendo no início da Lei Aldir Blanc, que viabilizou a criação das três leis e que, talvez agora, esteja caindo, em termos de engajamento. Eu não consigo ver o mesmo nível de engajamento para a Conferência Nacional de Cultura, para a segunda edição do Plano Nacional de Cultura. Parece que todo mundo está dizendo: “não dá para discutir isso agora. Nem sei se estamos no melhor momento”. Ao mesmo tempo que falo de continuidades, falo de descontinuidades, desse arrefecimento da mobilização. Parece que todo mundo está mais preocupado com o projeto que vai escrever para captar recursos pela Paulo Gustavo. Mesmo com toda a demora dos Estados, dos Municípios em implementar, ainda tem muito pouco barulho. Está demorando. De onde vai receber o dinheiro? Ainda não saíram os editais. Mas o barulho ainda está muito pequenininho. Vemos um movimento hoje: “cadê os editais da Paulo Gustavo?” Mas é pequenininho ainda. Acho que, na pandemia, já estaríamos fazendo muito mais barulho do que estamos fazendo agora. Isso, para mim, a mobilização, é um ponto. Outra coisa que posso acentuar, chamar para a discussão, é o pacto federativo, o Sistema Nacional de Cultura. Acho que tivemos uma oportunidade incrível de mobilizar três esferas. A Lei Aldir Blanc é a primeira oportunidade que temos para colocar na prática o que vínhamos defendendo: o Sistema Nacional de Cultura. De fato, não tem pesquisa que comprove o quanto, nas estruturas das gestões públicas estaduais e municipais, conseguimos estruturar para a Lei Aldir Blanc. Temo que não tanto, pelo contexto da pandemia e pelo contexto das eleições municipais de 2020. De qualquer forma, foi importante esse recurso ter chegado aos municípios. Outro dia dei aula para uma turma de gestores públicos de vários setores. Eu fui falar da Lei Aldir Blanc para essa turma. Foi interessante ouvir alguns gestores de outros setores, muito engajados, falando sobre esse investimento. Normalmente, não tínhamos nada. Éramos só o setor que pedia. De repente, foi o setor que passou a ter algum tipo de política. Isso é muito importante. A Paulo Gustavo vai dar uma fortalecida, porque tem aquele percentual para a orquestração. Talvez isso gere uma discussão. Por outro lado… A gente sempre vai e volta, não é? O que estamos percebendo? Estamos desenvolvendo uma pesquisa, no OBEC, que ainda está com dados muito preliminares. É o Painel do Fomento à Cultura no Brasil. Nessa pesquisa, do Painel do Fomento, o que já estamos observando é que houve também um arrefecimento do investimento dos municípios e dos estados. “Está chegando recurso federal, então, não vamos colocar o fundo municipal ou estadual de cultura para funcionar. Não vamos abrir chamada de editais próprios. Não vamos colocar a Lei de Incentivo para funcionar este ano”. Ainda não temos dados. Mas já percebemos isso na pesquisa que estamos desenvolvendo agora, ouvindo colegas também, em outros estados, e lendo pesquisas que estão sendo feitas nesse sentido. Ou seja, ao mesmo tempo que há uma oportunidade porque chega recurso, é também um desafio. É como se, por um lado, já não fosse necessário que os próprios investimentos da função cultura fossem executados. Por outro lado, talvez pelo enfraquecimento dos órgãos, porque eles não conseguem executar os editais e executar, ao mesmo tempo, as leis locais. Eu acho, mais uma vez falando de participação, que há pouco barulho, pouca mobilização dos artistas, dos realizadores locais em relação a essas ausências. Estou na Bahia. Estamos aqui nos governos do PT [Partido dos Trabalhadores] e, desde 2019, não tem edital do Fundo de Cultura do Estado. Isso é um absurdo. Tivemos em 2019. Saiu o resultado no início de 2020. Mas não foi implementado. Em 2020, 2021, 2022… Estamos em 2023. Eles já anunciaram a Paulo Gustavo e não anunciaram os editais do Fundo. São quatro anos sem Fundo. Então, mais uma vez, temos algo que estimula e, ao mesmo tempo, que gera outros efeitos. Vamos precisar de muitas pesquisas que mapeiem esses efeitos. Ainda sobre as continuidades, uma coisa que chamou muita atenção… Na pesquisa Panoramas, nós fizemos três eixos, são três pesquisas em uma. Em um eixo, entrevistamos 58 gestores públicos municipais nos estados e nas capitais para entender as prioridades, como foi feito o processo decisório, o que se priorizou nas políticas públicas. No segundo eixo, nós olhamos para os instrumentos. Analisamos 358 instrumentos e chamadas públicas dos estados e das capitais, para entender como estavam funcionando. No terceiro eixo, nós fizemos entrevistas com beneficiários ou pessoas que se inscreveram para poder ouvi-los também. É uma pesquisa de percepção dos resultados da Lei. Especificamente agora, você perguntou e me chamou a atenção: uma das coisas que nós falamos que não houve uma mudança, que é uma continuidade, é que nós imaginávamos que, no processo de implementação da Lei Aldir Blanc, quando olhássemos para os instrumentos, haveria uma simplificação. Teríamos chamadas públicas mais simples, mais diretas, sem muita cobrança, mais prêmios… Isso não aconteceu. Nós continuamos tendo muitas chamadas para a elaboração de projetos. No meio da pandemia, a maioria das iniciativas é para as pessoas elaborarem projetos, entregarem relatórios, relatórios de prestação de contas financeiras, além da caracterização da execução do objeto. Chamaram muito minha atenção, particularmente, os critérios de análise, de valorização. Tínhamos lá: trajetória, qualificação profissional, mérito, qualidade artística, viabilidade técnica. Ou seja, critérios que, historicamente, são critérios excludentes, que fazem com que os mais preparados continuem sendo os que recebem os recursos da cultura. Nesse momento da pandemia, pensávamos que haveria uma flexibilização. Quem mais precisava era quem tinha menos condição. Claro, há outros critérios que foram levados em consideração, como, por exemplo, reserva de vagas territoriais, para gênero, raça e cor. Vimos isso principalmente nos critérios. Há uma continuação no modelo burocrático de chamada pública para a cultura. Ainda não conseguimos simplificar esse processo.
Sharine: Pelo menos na teoria, o Novo Decreto de Fomento, por exemplo, diz que é necessário ter essa simplificação. Não sabemos se, na prática, os órgãos estão conseguindo seguir ou não…
Daniele: Ainda não estou analisando a Paulo Gustavo. Ainda estamos na Lei Aldir Blanc… A Lei Aldir Blanc não teve isso. Tem toda a discussão nacional sobre segurança jurídica, sobre a atuação das procuradorias e os medos de implementar esses recursos. Tivemos o movimento que envolveu muitos setores ligados ao direito para simplificação da caixa de ferramentas, de que a Clarice Calixto sempre fala, que é muito legal e, agora, o novo decreto. Esperamos que simplifique. Estou muito nessa expectativa também. Vamos ver, não é?
Sharine: Tomara.
Daniele: Uma das coisas que já ouvi de gestores nos estados e municípios é que não há justificativa jurídica para implementação do novo decreto nos âmbitos estadual e municipal. O decreto é federal. Portanto, ele diz sobre como o Governo Federal vai fazer. Mas não é uma lei. Ele não gera a segurança necessária que o Marco do Fomento à Cultura traria ou trará…
Sharine: De uma forma ou outra, acaba influenciando…
Daniele: Esperamos…
Sharine: Essas duas novas leis estão no centro de atenção do Ministério da Cultura, a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo. Como você acha que elas podem influenciar a estrutura do MinC e o conjunto das políticas culturais? Por exemplo, em relação a outras instituições mais antigas, como a Funarte. Você acha que essas mudanças são duradouras ou não, são coisas pontuais?
Daniele: Eu acho que estamos em um momento propício para discutir a divisão de responsabilidades no pacto federativo da questão da cultura. Eu acho que é isso que pode fazer uma diferença. Temos uma retomada com a reestruturação do Ministério da Cultura e com essas instituições, a Fundação Palmares, a Funarte, o IBRAM [Instituto Brasileiro de Museus], esses órgãos que têm um peso agora. Temos a implementação da Paulo Gustavo e toda a discussão sobre o audiovisual. Acho que, na Conferência, precisa ser feita essa discussão para que o novo Plano Nacional de Cultura e o próprio sistema avancem. Por exemplo, se pensarmos em investimento para as artes: qual o papel do município, qual o papel do estado, qual o papel do governo federal? Quem vai fazer formação? É formação técnica, profissional ou é formação no sentido de educação artística? Você precisa ter profissionais sendo capacitados. Mas, ao mesmo tempo, precisa pensar como se dá a aproximação da sociedade geral com as artes, com a cultura. Precisamos discutir consumo. Como dividimos, então, esses papéis? Tanto para que o agente cultural saiba quem procurar, de acordo com sua dor. Quando pensamos no Sistema Único de Saúde, temos uma indicação clara de onde você tem que ir. Se é uma emergência, você vai à UPA [Unidade de Pronto Atendimento]. Você já sabe que há um sistema de regulação. Se for algo maior, a UPA vai te mandar para o hospital. Por outro lado, se for uma coisa mais crônica, você terá que marcar uma consulta… Na cultura, não temos isso. O Sistema Nacional de Cultura não conseguiu avançar a esse ponto. Eu imagino que uma das coisas que podem ser perenes e que podem ser uma transformação é essa divisão de responsabilidades, de atribuições. Se conseguirmos aproveitar a oportunidade da implementação da Paulo Gustavo, mas, principalmente da PNAB… Porque, durante cinco anos de implementação, é possível viabilizar mais coisas, é possível avançar nessa relação. Acho que isso, para mim, é o que pode ser contínuo. Fora isso, há esses processos de fortalecimento institucional da gestão da cultura. Se você tem cinco anos com recursos previstos para serem recebidos pelos municípios, mesmo um município pequeno vai entender que precisa ter uma equipe ali. E, talvez, tenha que manter aquela equipe, ao invés de colocar a mulher do prefeito para ser a próxima secretária de cultura. A mulher já não pode mais, por causa da lei… Mas a prima para ser a Secretária de Cultura. Tem que ter alguém técnico, que entenda, que acompanhe, que consiga executar um edital. Você vai ganhando um nível de complexidade para essa gestão, e isso também nesse processo de institucionalização. Eu também acredito nisso. Eu também acredito que vai ser um processo de formação muito importante. Mas digo formação, aqui, no nível mais indireto: à medida que as pessoas tenham oportunidade para captar recursos e para executar, também estão fazendo iniciativa de formação. Isso eu acho que temos chance. Estou muito otimista de que esses processos possam contribuir. Em relação ao Ministério da Cultura, eu acho que há um desafio grande de reestruturação, que precisa ser feita. Entendemos que é um ministério que foi totalmente desestruturado, está no seu primeiro ano, as equipes ainda estão se formando. Mas precisamos de mais profissionais, de servidores técnicos concursados. É muito importante que tenhamos concursos, tenhamos profissionais porque vimos que, nesses quatro anos, o que manteve minimamente os processos acontecendo foi a existência de alguns servidores públicos, em número muito pequeno. Eu tenho dúvidas se conseguimos avançar nesse sentido: que o Ministério da Cultura e, em consequência, a Secretaria, passe a ter um corpo efetivo, mais técnico, mais perene e não ter tanta flexibilidade em relação às indicações de cargo político-partidário. Isso eu não se vamos conseguir alcançar, mas é um desejo.
Sharine: Obrigada. Você já falou um pouco, mas acho que dá para reforçar. A Lei Aldir Blanc foi criada em um contexto de pandemia. Então, entendemos que a participação da sociedade civil foi muito forte justamente por conta dessa situação de emergência que estava vivendo. Mas, mesmo com a melhora da pandemia, ainda conseguimos aprovar e implementar a Política Nacional Aldir Blanc e a Paulo Gustavo. O que você acha que contribuiu para isso? Estou falando especialmente do Congresso, dos parlamentares.
Daniele: Já comentei sobre a participação da sociedade civil. Outra coisa é que fomos chorar “no pé do caboclo”, como falamos na Bahia. Não sei se você conhece essa expressão…
Sharine: Não…
Daniele: Temos uma estátua muito grande, que é o caboclo do 2 de julho, da independência da Bahia, que fica no Campo Grande, a principal praça aqui da cidade. Quando alguém quer alguma coisa, dizemos: “tem que chorar no pé do caboclo”, que é lá no Campo Grande. Eu acho que, quando o Governo Federal não estava efetivo, não estava desenvolvendo políticas públicas em prol da cultura, embora desenvolvesse uma política cultural de ataque à cultura, nós soubemos ir buscar apoio em outras instituições. Isso foi muito importante. Conseguimos estar juntos do legislativo federal, do Senado e da Câmara. Conseguimos até o apoio do STF [Supremo Tribunal Federal]. Por exemplo, houve um momento em que a Ministra Carmen Lucia foi fundamental. Estávamos travados com a aprovação de Bolsonaro e vimos eles atuando. Já temos isso previsto na literatura acadêmica sobre políticas culturais há muito tempo: era preciso que a gestão da cultura fosse transversal, que perpassasse todos os órgãos, mas que também fosse interinstitucional, no sentido de que não se focasse tanto no executivo, e nem tanto no executivo federal, mas nos executivos estaduais, municipais e federal e, também, na casa legislativa, no poder judiciário. Isso ainda precisamos fortalecer porque não está dado, não está resolvido. Não temos os representantes da cultura bem estabelecidos. Qualquer pessoa, de repente, representa a cultura e, daqui a pouco, já não representa mais. Mas ainda não temos nossos políticos dedicados a esse tema na maioria das capitais, na maioria dos estados. Acho que isso foi uma coisa que garantiu, naquele momento, e que ainda precisa ser garantido, precisa continuar, ainda que estejamos em um momento favorável, em uma conjuntura de um governo de esquerda, com uma ministra ótima, com um ministério fortalecido. Mas, na disputa por políticas públicas a longo prazo, não está garantido. Temos esse recurso do orçamento: este ano, com a Paulo Gustavo, e, nos próximos, um pouquinho menos, com a PNAB. E depois? Não tem nada previsto. Precisamos continuar. Por isso, é tão importante nós nos fortalecermos para a Conferência Nacional de Cultura e para o Plano Nacional de Cultura.
Sharine: Legal. Muitos articuladores da Lei hoje fazem parte do Ministério da Cultura. Você acha que, de alguma forma, esse fato ajuda no processo de institucionalização ou é indiferente?
Daniele: Acho que há duas dimensões diferentes, a técnica e a política. Na dimensão técnica, como falei, precisamos de mais técnicos. Acho que o Ministério está muito político. O fato de ter muitos dos articuladores da lei ocupando cargos políticos no Ministério talvez gere um pouco mais de morosidade. A discussão das coisas pela via política leva mais tempo, promove outros tipos de consenso, outros tipos de articulações. Precisamos ter um pouco mais de tecnicidade no MinC, eu acho. Por outro lado, acho muito importante ter essas figuras representativas, o movimento que gera essas leis dentro do Ministério porque são mobilizadores, são articuladores que fazem as coisas acontecerem nesse nível político. Mas também há umas barreiras porque estão em defesa de pautas políticas um pouco mais amplas. Às vezes se dividem entre pautas político-partidárias e pautas políticas da cultura. É um pouco difícil. Na minha opinião, é importante ter essas figuras. É importante que estejam lá. Mas, para falarmos sobre institucionalidade do Ministério da Cultura, precisamos de mais servidores técnicos, mais cargos técnicos, inclusive assessorando esses cargos políticos. Não poderia ter, por exemplo, três ou quatro níveis de cargos políticos ali. Precisaríamos ter alguns escalões que são mais políticos, mas, depois disso, precisaria ter uma base técnica para garantir a execução e a viabilidade técnica das coisas.
Sharine: O que você acha que motivou 98% dos gestores dos municípios a aderirem à lei Paulo Gustavo? Foi mesmo a questão popular ou algum outro fator?
Daniele: Acho que a repercussão da Lei Aldir Blanc, em primeiro lugar. Houve muita repercussão na mídia. Houve uma repercussão nas redes sociais. Houve uma repercussão nos municípios. Então, a implementação da lei gerou uma movimentação, um burburinho, que excede a área, o campo de atuação profissional. Eu vejo pessoas que não sabem nem o que é, mas falam: ” esse negócio aí… de lei ‘band’, não é?”… Eu fui convidada a ir a rádios, ir a telejornais locais para falar sobre isso, sendo que normalmente não temos esses espaços. As pessoas falaram: “poxa, teve uma possibilidade de recurso. No próximo, vou me organizar para receber” ou “recebi, implementei, funcionou, vou me organizar para receber de novo”. Outra coisa é a própria retomada do MinC, o movimento de mobilização que gerou essa nova institucionalidade, a posse de Margareth Menezes, do próprio Presidente Lula, que veio à Bahia, que participou do momento de lançamento da Lei. Isso gera também politicamente uma necessidade de os municípios se verem parte disso. Esse é o segundo ponto que acho mais importante. O terceiro é a mobilização. Veja, neste momento, não estou colocando a mobilização em primeiro. Para a Lei Aldir Blanc, eu colocaria a mobilização em primeiro lugar. Para a Paulo Gustavo, cá com meus botões, eu acho, não sei se está certo, não é resultado de pesquisa, mas tendo a achar que a mobilização vem depois (para essa pergunta sua, não é?). Houve uma mobilização forte para a aprovação da Lei. Mas, para que os municípios aderissem, essa perspectiva mais institucional da repercussão e, por exemplo, no município, da repercussão política para aquele prefeito que não participou da lei, era muito maior. Havia o medo de ser tachado como alguém que não participou, o desejo de se envolver nas coisas que o MinC estava convocando, com material de divulgação, com muita fala, com muita repercussão. Talvez, em um terceiro momento, a mobilização local. Eu falo isso, nessa ordem, porque acompanhei de perto alguns municípios do Recôncavo Baiano. Eu frequento o município de Santo Amaro, onde dou aula, no Recôncavo, a cidade de Caetano Veloso e de Maria Bethânia. E, aqui em Salvador, também tenho relações fortes porque fui conselheira de cultura na época da Lei Aldir Blanc. Esqueci de dizer isso, não é? Eu fui do comitê que elaborou a Lei Aldir Blanc em Salvador. Eu participei intensamente do processo aqui na cidade, como conselheira de cultura. Eu fiquei falando que estava super envolvida, mas não falei isto: era conselheira de cultura na época. Eu continuei acompanhando um pouco. Tive que sair porque, depois de quatro anos, você não pode se reeleger para o próximo mandato. Mas continuei acompanhando um pouco. Eu não vi essa mobilização nesse momento [de adesão à Lei Paulo Gustavo], dizendo: “vocês precisam participar”. Era meio que esperado. Eu creio, também não é resultado de pesquisa, que houve pouca mobilização nesse sentido de participação. Acho que é mais, mesmo, esse chamado institucional e político. Talvez o peso da consequência de uma não adesão.
Sharine: Você também já falou um pouco, mas, se quiser reforçar: aderir ao Sistema Nacional de Cultura era um requisito da Lei Paulo Gustavo. Você acha que isso fortalece o Sistema como foi pensado originalmente, altera ou atualiza aquela concepção original, já que, na verdade, o Sistema nunca funcionou. Estamos tentando fazê-lo funcionar agora.
Daniele: Nunca funcionou, mas eu acho que fortalece o conceito, a ideia, porque sabemos que, nas políticas públicas, há todo esse processo, que é construtivista: primeiro você precisa que a ideia se fortaleça. Acho que, em toda política pública, há políticas imediatas, mas algumas são, de fato, de longo prazo. O Sistema era algo muito complexo para ser implementado. Precisaríamos, de fato, de algo que estimulasse que isso se tornasse real. Na época que os municípios estavam assinando a participação no Sistema Nacional de Cultura, tínhamos essa promessa do repasse fundo a fundo, que era uma palavra mágica. Eu participei de um projeto de elaboração de planos municipais de cultura. Era assistência técnica EAD [Educação à Distância] para elaboração de planos municipais de cultura. Era um projeto da escola de administração da UFBA [Universidade Federal da Bahia] com a SAE, Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, de 2014 a 2018. Eu fiquei quatro anos nesse projeto. Eu lembro que estávamos tentando convencer os prefeitos a assinarem o Sistema Nacional de Cultura, principalmente de 2014 a 2016, na primeira fase. Todo mundo estava assinando para fazer a adesão ao Sistema. Usávamos isso como uma senha: “olha, está previsto o repasse fundo a fundo”. Aí explicávamos o que é o repasse fundo a fundo: é sobre o município receber recursos do Governo Federal para aplicar na cultura. Se você não aderir, só você não vai receber. Então, os municípios aderiram. Já tínhamos um nível de adesão alto. Não tenho o número agora. Mas, se não me engano, vamos para o golpe com mais de 80% de adesões, alguma coisa assim…
Sharine: Adesões ao Sistema Nacional de Cultura? Não, estava em menos de 50%, se não me engano.
Daniele: Quando?
Sharine: Em 2020, antes da pandemia.
Daniele: Eu lembro que era uma curva de crescimento. Vínhamos aumentando muito o número de municípios que estavam aderindo ao Sistema.
Sharine: Entre 2012 e 2021, tivemos 51% de adesões. Agora, estamos em torno de 60%, se não me engano.
Daniele: É isso: temos um número grande em 2012, que é o auge, não é? Vira Lei, emenda Constitucional. Tudo acontece. Continuamos tendo adesões nos anos seguintes. Houve uma grita para aderirem em 2012. Depois, você continua tendo as adesões, vai tendo, vai tendo… Até que chega, realmente, a queda total. Talvez em 2014 ou 2015, já tenha enfraquecido bastante. O que eu queria dizer era isso: não tínhamos uma efetividade… Houve interesse pelo Plano, pelo Sistema. Os municípios estavam interessados… Aonde chegava, não é? Porque é muito difícil, depende do tamanho dos municípios e tal. Mas vínhamos fazendo esse processo. Essa ideia do repasse fundo a fundo precisava, de fato, ser implementada. Não conseguimos fazer isso. A Lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo são a materialização disso. Elas são importantes para conseguirmos colocar o Sistema para funcionar. Mas precisa ser revisto, ser regulamentado, ser entendido o que é isso de fato. Aquela discussão sobre as atribuições, que nós fizemos, a divisão de responsabilidades entre os entes federativos, é prioritária para conseguirmos pensar o Sistema. Talvez, a gente precise também de um plano a longo prazo para ir efetivando aos poucos. Não dá para acreditar que, de uma hora para outra… Em algum momento de 2012, acreditávamos nisso, que, do nada… A galera fala assim: “brotou o sistema, está todo mundo usando”. Eu acho que é mais complexo. Requer, por exemplo, isso que a Clarice Calixto traz muito: uma caixa de ferramentas, um conjunto de instrumentos jurídicos e de administração pública que viabilizem que isso se torne realidade. Não temos isso ainda. Repete sua pergunta para mim porque há um ponto nela que me chamou muito a atenção.
Sharine: Eu disse assim: “aderir ao Sistema Nacional de Cultura é um requisito da Lei Paulo Gustavo. Como você acha que isso altera ou fortalece o Sistema, como foi pensado originalmente?” Minha pergunta era essa.
Daniele: É isso. Eu acho que aderir, agora, é uma repactuação. Eu acho que fortalece. Precisa ter um momento assim de renovação de votos. Quantos já assinaram e quantos ainda não assinaram. Vínhamos namorando essa ideia. Eu concordo com o fato de que a Lei cria essa limitação e exige que haja essa adesão. Isso é importante. Mas, de qualquer forma, é importante que seja revista a forma como o sistema foi criado. Talvez, naquele momento do Brasil, estivéssemos mais idealistas, acreditando em uma coisa mais complexa. Depois de tudo o que vivemos, é possível termos aprendido alguma coisa sobre a divisão de poder: não está dado, não está resolvido. Outras figuras vão ser criadas pela direita, talvez com perfis completamente diferentes. Outra coisa é que aquele Sistema, e principalmente aquele Plano, que é o instrumento de execução do Sistema, foi concebido em um momento muito diferente de país. Por exemplo, além dessas questões mais políticas que estou colocando, há outras questões também políticas, mas não políticas de gestão partidária, que são as questões identitárias. Agora elas estão muito evidentes. O plano fala muito pouco das questões. É muito en passant a discussão que fazemos sobre as causas identitárias. Sei que há pesquisas sobre isso. Não é meu ponto principal como pesquisadora. Eu sei que há pessoas que estão se debruçando sobre isso, sobre olhar para o plano nacional antigo e entender. Mas é um momento de reconstrução e de pensar o futuro. O futuro muda, não é? Desde quando pensávamos, em 2012, já é bem diferente. Daqui a dez anos, vai ser diferente também. Temos esse exercício agora para fazer. Acho que a adesão é importante. É uma repactuação, é um acordo novo que tem que ser feito nesse processo de retomada. Se isso fortalece o Sistema como foi pensado, eu acho que não deveria. Deveria, de fato, ter um momento de inovação, de repensar, de entender… Também não é para jogar a criança fora com a água do banho. É entender o que nos serve e o que não nos serve mais.
Sharine: Grande parte dos artistas vive hoje de projetos contemplados por mecanismos de fomento direto e indireto. Esses mecanismos são importantes, mas sabemos que não resolvem a precariedade dos profissionais, que muitas vezes não têm renda fixa, não têm direitos, como aposentadoria e outros. Como você acha que é possível traçar políticas públicas que, de fato, melhorem essas condições de trabalho?
Daniele: Eu não sei se grande parte dos artistas vive desses recursos da cultura. Acho que há aí uma questão. Tendo a discordar. Por exemplo, a pesquisa Impactos nos mostrou que grande parte das pessoas que estavam mais afetadas pela pandemia nunca havia recebido um recurso de fundo de cultura, nunca tinha recebido recursos de qualquer mecanismo de incentivo à cultura, estadual ou federal. Quando pensamos nos artistas que vivem da cultura, há diferentes níveis, que eu chamo de modelos de atuação na economia da cultura. Você tem aquele topo, que é um topo que vive do mercado. Claro, vive indiretamente dos recursos públicos, na medida em que faz um show, a iluminação, o espaço, o carnaval, as festas públicas. Essa é outra discussão. Mas sua pergunta fala especificamente de recursos de editais, não é? De fomento direto ou indireto nesse sentido, não é? Das chamadas públicas?
Sharine: Eu entendo fomento indireto também como lei de incentivo ou outras formas. Mas minha questão é: todas essas leis que temos no Brasil trabalham com projetos, que são temporários. Isso, de fato, não resolve a precariedade do setor. Os artistas, vivendo ou não com recursos diretos dessas leis, continuam sem ter aposentadoria, sem ter outros direitos. Eu acredito que esse tipo de lei nem sempre consegue resolver essas questões sociais. Minha pergunta é nesse sentido.
Daniele: Aí eu chamo a atenção também para o resultado da pesquisa Impactos. Nós perguntávamos para as pessoas, lá naquela época, quais eram as principais medidas que elas acreditavam que poderiam ser feitas para reduzir os impactos da pandemia, para ajudar a mitigar os efeitos e para a retomada. Tínhamos um número, certamente, o maior número das pessoas apontando para investimentos através de instrumentos de fomento, como editais, transferência de recursos. Porém, o que chamou muito a nossa atenção foi que um segundo grupo falava em fortalecimento da gestão cultural. Então, estamos falando de políticas de fomento, mas que não são de repasse de recursos, mas de estruturação do setor. O que as pessoas falavam, e eu sempre chamo a atenção para isso? “Nós não temos nada que nos auxilie, como artistas e profissionais, a pensar na carreira, a pensar um negócio, como um SEBRAE [Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas] da cultura”. Sempre falamos que o SEBRAE poderia ter uma atuação muito mais forte. Quem já tem uma relação mais próxima, por exemplo, com o agro, não necessariamente o agronegócio, mas, por exemplo, a agricultura familiar, sabe que não existe, neste país, produtor rural, pequeno, médio ou grande, que não tenha acesso a políticas públicas, a recursos públicos. Por exemplo, a pessoa tem uma vaca e consegue fazer inseminação artificial naquela vaca. Há técnicos da Secretaria de Agricultura, da EMBRAPA [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária], de vários órgãos, que estão lá ajudando a melhorar o rendimento do que está sendo produzido. Na cultura, não temos isso. Os órgãos de cultura mal fazem iniciativas sistemáticas de formação. Há uma dificuldade de entender, mesmo nos órgãos de cultura, que essas pessoas são trabalhadoras, que é o que você traz. São trabalhadores que precisam de incentivo para continuar produzindo. Eu concordo, sim, tirando essa parte do início, de que “a maioria depende desses recursos”. Porque esses recursos – é exatamente o que você traz no final da questão – são muito esporádicos. Eles conseguem cumprir aquele sonho de fazer tal projeto, de executar uma coisa. Aí eles dão uma grana para a pessoa, que diz: “olha, conseguimos executar o projeto e, durante um ano, faremos isso e vamos receber uma graninha aqui”. Só que eles ocupam muito a carga horária das pessoas. Os projetos tomam muito tempo… Até mesmo pelo excesso de burocracia que vivenciamos. Na sexta, eu passei o dia tentando resolver a prestação de contas de uma coisa do fundo de cultura da Bahia, de 2019, que só resolvemos em 2021. Era surreal de burocrático. É um ótimo exemplo: não há um guia da Secretaria de Cultura. Olha, eu sou uma professora universitária, sou doutora e pós-doutora, tenho dois doutorados nas costas, com muita dificuldade de entender o que estavam pedindo ali. Não estou me exaltando. Estou falando o contrário. Se toda a área de cultura tem dificuldades, imagina um mestre da cultura popular, imagine uma artista que está ali… Não tem um guia, não tem um instrumento que te diga como fazer a prestação de contas, que te ajude. Os editais têm uma linguagem superdifícil. Concordo muito que não é feito para fortalecer, para estimular. A relação que se mantém com o fomento ainda é essa de que “vocês são os agraciados”. Chamamos de “beneficiários”, mas o termo é o mesmo: “estamos dando esse dinheiro para vocês, aproveitem, porque depois vamos cobrar pesado”. Precisamos mudar essa relação e precisamos, de fato, de políticas de fortalecimento e de ampliação da qualidade do trabalho, de redução das precariedades, que são todas essas que você mencionou. Ontem fomos a um lugar. Estava chovendo e havia dois músicos tocando em um barzinho. Era uma dessas coisas de rua, um foodtruck. Era tão pequeno, tão apertado o lugar onde eles estavam, que estava o cantor na frente e o baterista atrás. Eles não conseguiam nem ficar um ao lado do outro para se apresentar. Por que aqueles caras estão fazendo aquilo num domingo de tarde, chuvoso? Porque eles vivem daquilo, é daquilo que eles comem. Quando eles ganham um dinheirinho com edital, é para fazer uma coisa extra. Mas não é o sustento do cotidiano. Para o sustento do cotidiano, eles precisam de políticas estruturantes que melhorem a qualidade de vida deles. Vou dar outro exemplo: os mestres capoeiristas. A Bahia e o Brasil adoram dizer que a capoeira foi responsável pela expansão da língua portuguesa no mundo e, de fato, foi. Hoje a capoeira está em mais de 150 países e as pessoas aprender o português por causa da capoeira. Só que, se você for conversar com esses mestres que viajam, a maioria já foi presa em alfândega por estar levando instrumento de capoeira, por estar levando berimbau, por estar levando atabaque. Não há nenhum apoio para que esses profissionais possam fazer esse trabalho. Essa diplomacia cultural toda que eles fazem é com zero apoio do governo, em todos os três níveis. Não temos uma política internacional de apoio. Eu morei fora. Fui buscar, na embaixada brasileira, e a resposta era: “não, não temos nada a ver com vocês”. Então, concordo muito com o que você traz.
Sharine: Para terminar, duas perguntinhas rápidas: como podemos acessar parcelar maiores da sociedade, por meio de processos de mediação ou de formação de público, que muitas vezes estão ausentes nessas políticas de que estamos falando e que gera distorções, como vimos, por exemplo, as críticas contra a lei Rouanet, muitas delas infundadas. Como podemos trazer essa população também para entender o que é política cultural e para entender a importância disso. E, para terminarmos, depois dessa pergunta, há um exercício de utopia: como você acha que deveriam ser, idealmente, as políticas culturais no Brasil?
Daniele: São duas perguntas de utopia, não é? O que fazer para envolver o público e, idealmente, política cultural. Acho que precisamos pensar mesmo o público. Acho que pensamos pouco. Desenvolvemos pouco estratégias de aproximação com o público. É público no plural: públicos. Eu acho que há uma tendência – essa é uma crítica que eu faço – em muitos artistas, muitos grupos, por quererem se distanciar de um modelo mais comercial… O que o modelo mais comercial quer? Ser hegemônico, não é? Você quer vender o máximo possível para o maior número de pessoas. Para isso, o que você faz? Você dá, digamos assim, uma homogeneizada na sua produção para ela ficar mais palatável para todos os públicos. Porque você quer vender para todo mundo, você se aproxima dos modelos que estão vendendo. Esse pessoal sabe muito como lidar com público. Não tem um show desses, do arrocheiro [cantor do estilo musical arrocha] ao pessoal de teatro de comédia pesada… Essas pessoas sabem lidar com o público. Elas conseguem sempre atrair muitas pessoas. Ontem eu soube que o show do Luccas Neto, aqui em Salvador, estava lotado de crianças. Às vezes vamos a espetáculos infantis maravilhosos, super bem-feitos e vazios. Esse, por exemplo, estava lotado. Não é que todo mundo na economia da cultura, na produção artística-cultural, não saiba lidar com o público. O problema é que, quando vamos complexificando a qualidade da produção e isso fica menos palatável para um gosto mais básico, mais comum, as pessoas também se preocupam menos em chegar perto. O discurso é complexo, o acesso é difícil. Não está disponível. Não há um investimento no relacionamento com os públicos, por exemplo, nas redes sociais. Em outras áreas, fazem muito. Não tem um nível mais direto, da própria produção artística e cultural, de pensar na dependência com os públicos, na relação com os públicos. Falo sempre no plural. Temos que pensar que há o público mais direto, que talvez seja o público com o qual você se identifica mais diretamente, o seu espelho. Às vezes, brinco muito com meus amigos músicos ou das artes visuais: você está produzindo para você mesmo e para os seus amigos, que vão dizer que você é “massa” porque valorizam isso. Mas como isso que você está produzindo dialoga com minha mãe e com outras pessoas que não são do mundo das artes? Não sabemos fazer esse diálogo, precisamos aprender. Acho que as políticas públicas podem ter um papel nisso, de estimular diretamente, a partir de iniciativas de formação, através daquelas políticas de fortalecimento de gestão cultural, promover mais essa aproximação dos artistas, dos diferentes artistas, com seus públicos. Há muita coisa. O artista pensar a comunicação é uma etapa a mais que, talvez, não esteja bem resolvida para esses públicos. Mas há, também, um processo mais amplo, que você traz em sua pergunta e eu concordo muito, que é o de educação mesmo: cultura, como o Gil falava, como arroz e feijão. Entre as políticas de base da sociedade, do acesso, precisaríamos ter uma discussão sobre o acesso à cultura. De fato, qual a parcela da população que já foi ao teatro, que já assistiu a espetáculos de uma ópera, que lê livros com frequência? Ainda é muito pequena e sabemos que, nas escolas públicas, nos bairros, nos lugares mais carentes, há ainda um afastamento muito grande disso tudo. Ontem, minha irmã pequena estava aqui. Minha irmã, filha do meu pai com outra mãe, tem a mesma idade da minha filha. Minha filha estuda em uma escola particular, uma escola construtivista, e minha irmã estuda em uma escola pequena, de bairro, nem sei se é pública, mas é uma escolinha pequena lá do bairro, um bairro mais popular. Ela estava impressionada com a quantidade de livros que minha filha tem. Ela falou assim: “nunca vi tantos livros na minha vida!” Quer dizer, ela sequer tem acesso a essa quantidade de livros. No caso dela, ela acessa porque está aqui na minha casa e eu vou dar um bocadinho para ela, ela vai levar e tal. Ontem fomos ao teatro e ela falou: “é a primeira vez na vida que vou ao teatro”. Sequer, na escola, há um incentivo para isso. Eu concordo muito que precisamos avançar nas políticas para que arte e cultura sejam consideradas como arroz e feijão. Quando você tem experiência internacional nos países desenvolvidos… Eu fiz o doutorado na Bélgica e dava aula de capoeira para crianças, paga pelo governo belga. De capoeira. Entendeu? Eles tinham uma diversidade imensa de opções de atividades culturais para as crianças fazerem gratuitamente. Quando pagavam, pagavam dez euros o semestre. Era uma taxinha. Estamos aqui em Salvador, a cidade meca da capoeira no mundo, conhecida como a origem. Os capoeiristas do mundo todo vêm para cá aprender capoeira e o prefeito tirou da educação básica a obrigatoriedade de professores de artes nas escolas. Em seguida, ele vetou a lei municipal, que tinha sido aprovada na câmara, para capoeira nas escolas. Não tem capoeira nas escolas públicas municipais de Salvador.
Sharine: Mas, na Bélgica, tem…
Daniele: Sabe o que é mais bizarro? Aqui em Salvador, ele vai gastar três bilhões de reais para fazer uma arena no lugar onde chegam os barcos de viagens de cruzeiro. Naquele porto aonde chegam os barcos de cruzeiros, ele vai colocar uma arena para os capoeiristas ficarem jogando. Para que? Para turista ver. Vão gastar não sei quantos bilhões, não me lembro o número exato, para construir a arena, para colocar piso no chão, porque capoeirista só precisa disso. Se esse dinheiro fosse investido em capoeira nas escolas, dava para muita coisa ser feita. Mas é isso, não é prioridade. Então, como você previa, dá para discutir as duas coisas: idealmente, para mim, política cultural, deveria, na prática, ser colocado o que está em nossa Constituição Federal. A Constituição é linda. Eu leio para meus alunos como poesia, como ideal. Se um dia tivermos aquilo… “O Estado garantirá a todos o pleno exercício…”. Você tem ali as duas perspectivas do direito cultural: o direito ao acesso e o direito à realização, mas também as liberdades individuais. O que acredito, idealmente, está na Constituição Federal. Idealmente, o que queria, era ver aquilo colocado em prática nos pequenos municípios, nos médios e nos grandes, nos estados, com apoio do Governo Federal, com Sistema com atribuições e responsabilidades bem distribuídas, com recursos perenes, programas a longo tempo, de estado e não de governo. Que pudéssemos ver as coisas continuando independentemente do poder político. Acho que o Sistema Nacional de Cultura pode colaborar muito para isso. Investir no Sistema é construir isso que queremos que aconteça, esse fortalecimento, essa garantia de que continuaremos tendo política cultural, independentemente do grupo doido que esteja no poder.
Sharine: Obrigada!